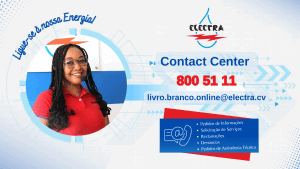De erupções capilares a cuspidelas duma certa dentadura literária (ou singelo contributo para a desratização da literatura pátria e suas instituições cimeiras)
«Não se pode ser culto e manhento ao mesmo tempo».
João Vário
«Ética é estar à altura daquilo que nos acontece»
Gilles Deleuze
INTRODUÇÃO
Esta é a crónica de um acerto de contas anunciado. Mas acaba por ser também um alerta à nova geração de escritores para os perigos da institucionalização que alguns têm reivindicado, mas se calhar ainda não suficientemente conscientes e vacinados contra as suas armadilhas.
A esses pares há pouco chegados digo: prefiram sempre a sinceridade de um juízo frontal, mesmo quando desfavorável ou mesmo desagradável, às edulcorações em que tudo são rosas a florir, aqui e na próxima esquina. Não entrem pela porta que vos abrem: empurrem aquela por onde não querem que entrem. Não aceitem conselhos de ninguém, sequer estes que vos dou, nem se afadiguem a atingir o olimpo já amanhã — façam o vosso caminho das pedras, na convicção de que só vale a pena se puderem chegar lá pelo vosso próprio pé. Sobretudo nunca empenhem o corpo ou a alma, porque jamais tereis de volta o que empenharam ao demónio. E nenhuma glória, literária ou outra, vale uma noite de insónias a matutar naquela inocência que jamais voltareis a ter. Não se deixem deslumbrar pelas luzes dos salões ou os cadeirões das academias, pois, como escreveu Rimbaud, a vida é sempre noutro lugar.
Pessoas que muito estimo e me estimam dizem-me que não vale a pena este acerto de contas. Talvez. Mas lavra em mim um tal ímpeto juvenil, um tal instinto gozoso, que tenho que lhes dar vazão de tempos a tempos. (Desse impulso também nasce o melhor da minha obra). Pena é que me saem ao caminho apenas figurantes menores. Contudo, jamais negligencio a pulsão ética e o carácter profiláctico que preside a essa necessidade de dar o troco, mesmo quando preferiríamos não o fazer, como diria melancolicamente Bartleby, o célebre personagem criado por Herman Melville.
Sei que com este texto não farei mais amigos, bem pelo contrário, pois como bem soube Martin Luther King para criar inimigos não é preciso declarar guerra, bastando apenas dizer o que se pensa. Criarei inimizades, alguns atirarão das sombras ou por detrás dos arbustos, mas seja: nós não viemos a este mundo para conveniências. Viemos para criar e dar testemunho da nossa condição, porquanto sempre foi a arte território de liberdade, e apenas o demandam verdadeiramente aqueles que se recusam às peias da domesticação, às águas churdas do consenso, às esquinas fétidas do conluio.
Há anos atrás, uma alimária, criatura perfeitamente identificada, experimentou o ferrão da minha fúria por ter tentado deitar, anonimamente, lama sobre a minha vida. Nesse então aconselharam-me: tu não lutes com os porcos, porque os porcos adoram a lama e acabas por te sujares. Mas por vezes é preciso meter a mão na merda. É pelos enfrentamentos pela dignidade que seremos recordados, se não pudermos sê-lo por obra mais alguma.
Um outro andou a papaguear no extinto jornal electrónico FORCV que era dele o prémio Pedro Cardoso 2009, atribuído ao meu livro inédito, escrito em língua caboverdeana, Tenpu di Dilubri. (Depois de algumas peripécias, vai ser editado finalmente este ano). Por ser intelectualmente imbele, levou apenas duas suaves palmadas. Desapareceu de circulação. Dizem-me que foi ganhar tarimba. Daí acreditar na virtude pedagógica do açoite, sempre através da pena, em legítima defesa, pois eu abomino a violência, seja de que tipo for. Só aquela que é apanágio da grande arte, que nos livra dos quotidianos castradores e dos dias funcionários, eu consinto.
Quanto ao presente caso, concedo um pouco mais de peso à senhora Vera Duarte, presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras (ACL). Não por virtude de qualquer envergadura intelectual ou artística, mas porque o poleiro onde se acantona permite-lhe um cacarejo um pouco mais audível e o fel maligno espalhar noutra proporção.
A chamada à colação das duas outras pretéritas pelejas tem o fito de advertir o leitor para o facto de as minhas intervenções deste cariz e quilate terem sido derivadas da necessidade de defender a honra ou repor uma verdade. O melhor do meu talento e das minhas energias é dirigido para a criação sublime, a não ser que as bocas do mundo me exijam os pés na lama e fogo na língua.
E como, mesmo com a mão na merda, o sublime se impõe (não sabemos de que porcarias nascem os versos, escreveu a russa Anna Akmatova), deixo-vos um de dois poemas que me ocorreram enquanto escrevia este desinfestante manifesto.
1.
Não venho aqui armado em santo ou impoluto. Se calhar até tenho mais pecados do que aqueles que a minha pobre carcaça pode suportar. Só não arrombei igrejas ainda e parti santos em altares. Mas nesta questão entendo que a razão me assiste, porque a ofensa e a tentativa de amesquinhamento são gratuitas e longo o historial de desmandos. Por isso não pouparei no verbo.
Xenófanes dizia que a verdade não era para ser divulgada, porque as imagens da opinião ou do senso comum são historicamente mais fortes que a justiça da verdade ou a verdade da justiça. E nestes facebookianos tempos de pós-verdade isto é ainda mais evidente. Mas este é um risco que tenho de correr, pois muito prezo a higiene mental e sempre recusei o feudalismo, o mandarinato e as manigâncias dos baronetes da cultura.
Uns apreciarão a vã glória de mandar; outros, as tépidas luzes dos salões, insuficientes porém para penetrar as pouco poéticas máscaras em que, inautênticos, se disfarçam. Eu vivo das agruras e alegrias de criar, aqui no longe, em terra alheia, com aquele módico de esperança de que aquilo que ascendeu à condição de obra possa transcender-se e permanecer para além do tempo da minha vida. Nada mais ambiciono ou possuo, sequer poiso ou vianda com que recompensar, como outros, aqueles e aquelas que nesse comércio de promoções mútuas, homenagens e medalhações, jubilados e jubilosos, aduladores com vocação para a carreirice, sem génio e sem fulgor (qual se fora fado o mau talento), demandam Praias e seus antípodas.
2.
Eis pois ao que venho.
Recentemente foi divulgado pela comunicação social o resultado do concurso Prémio Mário Fonseca – Livro do Ano, instituído pela Academia Cabo-Verdiana de Letras (ACL) e patrocinado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através da Biblioteca Nacional (BN), ao qual se podiam candidatar obras éditas de autores caboverdeanos, englobando vários géneros, e que foram objecto de publicação ou distribuição em Cabo Verde entre janeiro e dezembro de 2015.
A notícia dizia que o prémio não tinha sido atribuído porque nenhuma das obras a concurso – pasme-se – se encaixava nos critérios regulamentares. Tendo o livro de minha autoria, Lisbon Blues, sido submetido a esse concurso, tentei conhecer os fundamentos dessa decisão um pouco estranha, dado que não se aludia a nenhum aspecto substancial, tal como a qualidade dos livros, mas a aspectos de natureza meramente formal. Tomei então a iniciativa de telefonar ao Doutor Daniel Medina, vice-presidente da ACL, que me remeteu para a presidente.
Em 30 de janeiro enviei à presidente um email, com conhecimento dos restantes membros da Academia, nos termos mais normais e correctos possíveis (embora já com uma crítica ao regulamento), solicitando que me fosse disponibilizada, em tempo oportuno, a acta do júri. Do mesmo passo, aproveitei para enviar aos confrades apreciações de que o livro tinha sido alvo noutras latitudes, incluindo uma notável leitura do escritor e crítico literário português, António Cabrita (no presente professor universitário em Moçambique), publicada em outubro de 2016 no jornal Expresso das ilhas, quase que numa antecipação do que poderia vir a acontecer, porquanto sabia do aumento do desconforto da presidente da ACL desde a minha vitória no Prémio BCA de Literatura, em outubro de 2016, e da sua longa desafeição em relação à minha pessoa (para mim, contudo, coisa muito humana e natural), pois jamais cedi à cumplicidade oca de escribas sem qualidade, se bem que não acocoradas, mas sempre de crista mui alevantada.
Transcorridos dias de incompreensível silêncio institucional, enviei novo email reiterando a solicitação. Tendo eu interesse legítimo na decisão, ademais sendo eu membro da Academia, porque não havia resposta aos meus emails? Haveria acta? Se sim, o que conteria ela que impedia a sua disponibilização? É com tais cogitações na mente que decido contactar o jornal A Nação para que, através de investigação jornalística, se pudesse fazer luz sobre o assunto e trazer a público as concretas razões da não atribuição do prémio. Para tanto indiquei ao jornalista as pessoas a contactar, ou seja, a presidente da ACL e os membros do júri, que fiquei a saber quem eram através da conversa telefónica com o Daniel Medina. É durante esse processo que o jornalista me informa que, afinal, a presidente me iria enviar a acta do júri.
Efectivamente, logo a seguir verifiquei que me fora enviado um email trazendo em anexo um documento de meia página, em word, apócrifo, sem qualquer assinatura, contendo o que seria a apreciação do júri à minha obra e as invocadas razões regulamentares para a sua exclusão, razões essas que tenho por improcedentes, como mais adiante tentarei demonstrar, conquanto a concreta factualidade aduzida não contende com nenhum ponto do regulamento.
3.
É pois sem surpresa que, recebido o jornal A Nação, a meu ver com um foco excessivo em mim e no meu livro (mas seja, literariamente, tenho as costas bem forradas com o quilate das obras que produzi), constato que a presidente da ACL resolve bolçar o seu fel e ressabiamento em direcção à minha pobre pessoa.
Diz, com grande deselegância e altaneirice, quanto mais não seja pelo lugar institucional que ocupa, que eu teria ficado com os cabelos em pé por não ter ganho o prémio, tentando tripudiar para cima do meu eriçado cabelo (até apetece trautear aquela música que muito ouvi na infância «deixa o meu cabelo em paz»), em vez de assumir as responsabilidades da ACL na feitura de um regulamento (como bem fez Daniel Medina, vice-presidente, dizendo que a instituição estava num processo de aprendizagem) que, a serem verdade as razões invocadas, impediu que qualquer livro editado no ano em apreço e enviado a concurso se encaixasse nele. (Pobre Mário Fonseca, lá no céu ou inferno dos poetas onde estás, nem morto este país consegue atinar contigo).
A minha preocupação primeira foi quase sempre em relação ao regulamento, a qual manifestei à presidente da ACL em email de 22 de julho de 2016, e ao Ministro da Cultura em email de 4 de agosto do mesmo ano, onde adiantava algumas sugestões, com vista a evitar a sonangolização do prémio.
Materialmente, é coisa pouca, este prémio. (Já os ganhei com mais de dez vezes 0 valor em causa). Mas os prémios não são relevantes apenas pela sua dotação pecuniária. A importância deste reside no simbolismo do nome que leva, Mário Fonseca, vulgo Mariozon, um grande vulto da nossa terra, que conheci pelo ano 87 do século que findou, quando veio lançar o seu primeiro livro de estreia, Mon Pays Est Une Musique, no meu liceu Domingos Ramos, tendo-me dado a honra do seu convívio (que se prolongaria em poética amizade até ao fim da sua vida), sendo eu nesse então jovem finalista do curso complementar dos liceus, debutando na poesia (muito má, diga-se) através da revista Aurora (a primeira e, presumo, até hoje a única revista literária dada à luz naquele estabelecimento), dirigida por mim e fundada com outros jovens companheiros dessa insubmissa idade: João Pinto Semedo, Júlio Sanches Afonso, José Maria Varela, Jeremias Furtado, Nilda Fernandes, José Cabral, Ana Maria Semedo, todos eles há muito, ajuizadamente, longe da ilusão mas também da podridão do mundo das letras.
Para além do inaugural Mon Pays Est Une Musique, já que O Mar e as Rosas se perdera para sempre, publicou Fonseca outros livros em francês, tendo-se tornado este a sua língua poética natural, manejando-a até com maior destreza e conseguimento que o português, escrevendo poemas estruturalmente densos, mas sempre com l’odoriferante odeur do soleil que c´est une orange, título de um outro livro seu.
Desse Mário solar e enérgico, guerreiro inteiro para a vida, eu gostava. Mas como compreendo essoutro, desalentado, que após a apresentação dos meus dois primeiros livros, em 2004, no pátio da minha antiga escola, no Tarrafal, no meu primeiro regresso a Cabo Verde quinze anos depois de ter saído de lá, me dissera: «não cometas o mesmo erro que eu cometi; nunca voltes definitivamente a este país».
Oh, sim, voltarei, Mário, uma e outra vez, nesses setembros que tanto te intrigavam que aparecessem em não poucos poemas desse meu inaugural Paraíso Apagado por um Trovão, não reparando tu, nesse então, nesse majestoso verde (ou não sabendo nem intuindo o seu significado), que nos acompanhara de Ribeirão Chiqueiro até Chão Bom, meu rincão natal, por te faltar a vivência campesina desses gajos da parvónia, termo com que certa vez apelidaste os poetas emergentes da geração de oitenta (quase todos eles do interior da ilha maior), entre a admiração e a gozação citadinas; sim, voltarei, definitivamente, quando for tempo disso, pois como escreveste em Son de Negro no Exílio «Não há no mundo lugares/que não me conduzem a Santiago/(…)mesmo que a morte de sete signos/com sete fôlegos me aguardar».
A referência ao desalento e ao alto labor poético de Mário Fonseca na língua de Rimbaud, Baudelaire, Francis Ponge ou René Char - poetas que ele muito amava - tem o fito de acordar a curiosidade do leitor para o facto, incompreensível a meu ver, de alguém desta santa terrinha ter ganho o Prémio Tchicaya U Tam’si (poeta congolês, de seu nome notarial Gérald-Félix Tchicaya) não escrevendo em francês, nem tendo obra editada nessa língua, nem obra de valia em qualquer outra língua deste mundo, nem sequer em volapuque, que tornasse natural tal atribuição. Perplexidades apenas.
4.
Eu nem nos meus piores delírios metafóricos ousaria vez alguma referir-me às peculiaridades (capilares ou outras) duma senhora. Mas quando a inveja e o ressabiamento tomam o lugar da ponderação, tolda-se o entendimento e foge a boca para o fel, produto de mal resolvidas angústias criativas, pois se o primeiro verso o deus no-lo dá, como escreveu Sophia, o resto é preciso ter-se o ímpeto selvagem para o desentranhar, e do tempo que já leva a peneirar a areia sem descobrir uma única pepita, prova que a nossa antagonista não possui engenho para tanto.
O grande Harold Bloom, monstro da exegese textual, do literário ao bíblico, que em tempos atirou uma certeira farpa contra a desfiguração do texto literário por alguma franja dos estudos culturais, citando à laia de hipotético exemplo Cabo Verde, e que escreveu a notável e controversa A Angústia de Influência, devia reincidir e escrever agora A Angústia da Impotência, criadora, está bom de ver, pois é apenas disso que se trata aqui.
Mais: desconfio que não são as particularidades da minha carapinha que fazem a dona encanitar. É bem verdade que quando corto o cabelo pareço uma espécie de «china desnaturado», simples defeitos de fabrico (título duma antologia de poemas familiares a organizar) porém são, mas como poderia a senhora aperceber-se de tal peculiaridade capilar se apenas por três vezes na vida me viu, sempre à distância, no palco de lançamento dos meus livros, pois aqueles que bem me conhecem sabem que é a altura em que, estranhamente, sou mais refractário às amenidades salamalequeiras, pois desconfio sempre desses que tentam apanhar umas migalhas mediáticas, mesmo quando o palco deva ser de outros? Não, o que faz encanitar a senhora é o que está bem por baixo: a mioleira que tantas obras produziu, e que a crítica, os leitores, e as teses universitárias, um pouco por todo o lado, não cessam de exaltar. (Perdoa-me, leitor, mas, como está escrito no Eclesiastes, debaixo dos céus só existe vaidade).
Sabemos, desde tempos primevos, que a inveja é o único pecado que não se assume. (Eu tenho que aplacar todos os dias os meus demónios do orgulho e da vaidade). Porém, se são os cabelos em pé a manifestação fisiológica por não ganhar prémios, eu seria quem os teria mais alisados e amansados, pois o mar de prémios são as águas onde melhor navego (nesta altura são uma dezena, ganha em três continentes, mais do que qualquer outro nesta nossa outrora santa terrinha, agora feudos de sangue e de medo, do galopante kasu-bodi e do santo grogu fedi, aleluia), correndo até o risco, por ser fraco nadador, de soçobrar sob o peso de tanta premiação, tal um Camões um pouco menos desafortunado. Ainda assim, consigo disgobedjar bem no meio das lacraias e raias venenosas da literatura pátria, por isso, koraji, Djuzé, que longa é a arte e breve a vida.
E mais ainda: eu faço tanta questão de ganhar os prémios como me regozijo quando os ganham, na transparência dos processos, aqueles nossos conterrâneos com obra que não se pode contestar. Foi o que aconteceu em maio de 2009, uma semana depois de em entrevista ao jornal A Nação, justamente na sequência da apresentação na cidade da Praia da edição brasileira de Lisbon Blues, ter dito que o Arménio, na minha opinião, era o nosso maior poeta vivo, através de um texto celebratório que publiquei no Liberal, intitulado «Bouquet de flores para Arménio Vieira, dito conde, rei à nossa maneira». Alguém mais o fez? Que me lembre, fui o único. Em dezembro passado, eu e o José Luís Hopffer Almada fomos assistir, com notório contentamento, à cerimónia da entrega do prémio Pen Club de narrativa, atribuído ao nosso confrade Mário Lúcio pela obra Biografia do Língua.
E mais isto: fui eu que em email de 22 de julho de 2016 sugeri à academia que alargasse o prémio às obras publicadas em 2014, e não apenas às de 2015, para se poder ter um maior leque de escolhas. Estava a pensar, concretamente, no conjunto dos quatro Brumários dados à estampa pelo Arménio Vieira, e num precioso livro de poesia da autoria de João Baptista Efígie, pseudónimo de Domingos Landim de Barros, que, entre outras peças de grande valia, traz-nos um notável poema intitulado De Urbe para Orbe, que dá título ao volume, pós-épico dividido em dez andamentos, numa métrica e ritmo fulgurantes, num léxico algo preciosista, e onde confluem a herança clássica, o bosquejo metafísico, sem fugir à rudeza da imprecação social, que bem me apraz dizer: nasceu mais um poeta caboverdeano no século vinte e um.
(Vim a constatar, depois, que o livro era de 2015, mas faltavam-lhe três páginas para poder ser admitido a concurso. Ridículo! Não se podem julgar obras de arte com critérios de mercearia. Não aprendemos nada com a história literária? Quem se lembra hoje de um já olvidadíssimo versejador que ganhou um prémio ao Fernando Pessoa pelo facto de o livro deste não ter um certo número de páginas? Cem anos depois permite-se uma academia que se quer séria fazer escárnio aos livros com um regulamento trapalhão, se é que foi esta a causa da inglória decisão).
Ao mesmo tempo que celebro a grandeza e a glória dos vivos, reajo com desabrido desassombro à hipocrisia lacrimejante dos que derramam, para comporem suas futuras legendas, elogios que fedem a falso sobre quem em vida tentaram torpedear, lá onde pudessem, na consecução do que mais nobre e mais sublime se propunham – a sua arte – sendo, porém, mesmo já pó na terra fria, mais vida e carne e sangue na obra grandiosa que nos legaram. Aconteceu na morte do João Vário em 2007, em texto dado à estampa no jornal electrónico Liberal. Sem visar ninguém em particular, a carapuça foi enfiada por meio mundo, porque tinham a consciência das sacanagens feitas a este colosso da poesia em qualquer língua e em qualquer lugar, porquanto esta é a natureza do torpe mundo das letras e são muito poucos os que conseguem escapar aos seus pântanos e esquinas de traficâncias.
5.
Este troco, que já vem com os respectivos juros de demora agregados, não se relaciona apenas com o assunto em pauta, ultrapassa até a figura e situações concretas para se situar num plano de manifesto, embora a acusação insolente, atirada irreflectidamente ou em desespero de causa ou por se achar com as costas quentes, tenha fornecido um forte e legitimador pretexto. Há contas doutros rosários, embora isto tudo ande ligado, na constância de procedimentos com pouca transparência, quando não mesmo manhosos, da falta de pejo, em que tudo é legítimo para se sobressair nesta fedida feira de vaidades.
Eu sempre me movi longe dos poderes, fáticos ou presuntivos, e se algum em algum momento pareceram ou parecerem mais próximos, é porque foram os poderes a moverem se na minha direcção, ou na direcção dos meus conseguimentos.
Com a compreensão de alguns e acusações de tantos, que aceito com humana e compreensiva naturalidade, porque o mundo é assim mesmo, tenho-me furtado a oferecer o peito, a cabeça os ombros ou quaisquer outras partes às honrarias honoríficas: já por duas vezes recusei a medalha do vulcão, embora sempre com íntima humildade e genuína gratidão por o meu país se lembrar de mim e achar-me merecedor de tal honraria. Pois, como se diz no Eclesiastes, outra vez, há um tempo para todo o propósito debaixo do céu, e entendi, até agora, que ainda era apenas tempo da poesia. (Sendo que hoje é tempo de matar, como também preceitua o mesmo Eclesiastes). Recusei a homenagem do Congresso de Quadros Cabo-Verdeanos na Diáspora, em 2004, quando ganhei o Prémio Mário António da Fundação Calouste Gulbenkian (à data apenas o maior e mais conceituado prémio literário que um autor caboverdeano ganhara alguma vez, quatro meses após a publicação do meu primeiro livro, Paraíso Apagado por um Trovão), assim como a disponibilidade manifestada pelo embaixador de Cabo Verde em Portugal na altura para solicitar ao governo um passaporte diplomático em meu nome.
Só em 2012 aceitei uma singela homenagem da Câmara do Tarrafal, como sempre disse que aceitaria se ma propusessem, porquanto não era senão um agradecimento mútuo esse dar e receber da gente viva do meu rincão, que com a sua existência simples me proporcionou mundos de possibilidades para esses versos que têm o rosto das suas alegrias, a consistência dos seus corpos de seiva e sémen, das suas línguas de pranto e praga, dos seus cantos de lamento e de louvor, do cheiro do destino a florir a cada bendita ou aziaga madrugada.
Por isso, nunca fiz da poesia escada para qualquer proveito mundano, capital simbólico para barganhas, quaisquer que sejam, e na liberdade livre que a palavra poética sempre me proporcionou jamais deixei de dizer veemente ou desabridamente, por qualquer cálculo ou conveniência, o que tivesse por justo e necessário.
É nesse exercício livre, desempoeirante e descomprometido da palavra e do pensamento que, em dezembro de 2014, por alturas do lançamento do meu livro Coração de Lava, concedo uma significativa entrevista ao jornalista António Monteiro onde, entre outros assuntos, abordava as razões da proeminência institucional de Corsino Fortes em relação a João Vário no sistema literário caboverdeano, os contornos da atribuição do prémio Sonangol de 2oo4, e a necessidade de um instrumento que me permitisse viajar com mais segurança e facilidade, dadas as solicitações que me chegam agora de diferentes lugares, não porque ocupo nenhum poleiro, mas por mor das obras que dei e venho dando à vida.
Ao tomar conhecimento da entrevista, o Corsino Fortes reuniu a direcção da ACL para tratar da questão do pedido de um passaporte diplomático, que devolverei amanhã, se for caso disso, dado não se tratar de nenhuma coroa de glória, mas apenas de um instrumento útil. O Corsino só me informou dessas diligências, perguntando-me se eu aceitaria o passaporte, após obter a anuência do ministro dos negócios estrangeiros, com fundamento na lei que regula tal atribuição.
Por diferentes e insuspeitos canais chegaram-me ecos duma intervenção façanhuda e acintosa da actual presidente da ACL, vice na altura, visando a minha pessoa. E nisso até nem esteve sozinha. Parece que tenho o condão raro de fazer acender nas almas literariamente mais débeis fogachos de inspiração tribunícia que as alcandoram a verdadeiras passionárias da palavra. Diz-se que ainda tentou fazer crer ao Corsino que a minha entrevista era um ataque à sua pessoa, mas sem sucesso. Preferia não ter tomado conhecimento de nada disso. Mas, humano que sou, registei para memória futura.
Mas o que encanitou verdadeiramente a nossa passionária eram as considerações sobre a atribuição do prémio Sonangol de literatura de 2004, à luz de novas informações que me chegaram por aqueles dias, contraditórias em relação ao que se disse anteriormente, e que a entrevista fazia eco. As razões eram cristalinas: uma sequência de estranhas decisões fez com que um livro meu fosse descartado da corrida com argumentos de que, dada a sua natureza, estranheza e complexidade, talvez não fosse de um autor «genuinamente» africano. (Alguém saberá explicar-me o que é um autor genuinamente africano?). Acontece que, mesmo com aquele que considero ser o meu melhor livro fora do caminho, numa decisão sem sombras de equívocos, as obras premiadas não poderiam tê-lo sido, posto que o Mário Fonseca concorrera com um grande livro, Morrer Devagar. Mais: o livro A Candidata, um dos premiados ex-aequo, sequer podia ter sido admitido a concurso porquanto não cumpria as condições regulamentares: o regulamento dizia claramente que o concurso era para obras inéditas, e parte da referida obra tinha sido publicada no jornal Artiletra. Fica claro que a nova paladina do ineditismo, qual aparecida nossa senhora, já não no cimo duma azinheira, mas estribada nos pináculos da academia, ganhou um prémio que entre outros claros mistérios estava fora da lei.
Portanto, temos uma candidata (obra), que não podia candidatar-se, mas que por humanas prestidigitatórias artes passa a vencedora. E porque les beaux sprits se rencontrent, o outro vencedor era somente o presidente da entidade que geria o prémio, a União dos Escritores Angolanos, que não poderia candidatar-se, se não por razões regulamentares, pelo menos por razões de transparência e ética.
Entendo que assim deva ser: em outubro de 2014, no dia em que comemorou os seus 50 anos, depois de um almoço na Associação Caboverdeana de Lisboa, o então Ministro da Cultura, Mário Lúcio, convidou-me a fazer, através de fundamentação detalhada, o desenho de um Prémio Nacional de literatura, uma espécie de CVMA do livro, incluindo o respectivo regulamento. Não aceitei porque, mesmo sendo bem remunerado, e reconhecendo a necessidade de dar ampla visibilidade ao livro, entre outras razões, sendo eu sempre um candidato natural a um prémio dessa natureza, fazê-lo seria colocar-me numa posição insustentável do ponto de vista ético.
Mas o pecado maior, nesta espécie de biblioclastia à nossa pequena medida, não foi o meu livro ter sido posto fora de combate por uma apreciação preconceituosa; é A Candidata ter vencido quando a concurso estava também Morrer Devagar livro da matura idade, e já de despedida, do Mário Fonseca. A única coisa transparente nesse concurso foi a viagem da candidata (sim, sabemos que o pretexto foi outro, mas eles nunca foram parvos) a Angola mesmo na véspera do anúncio do vencedor.
Esse foi o prémio «pescadinha de rabo na boca», que antes de ser já o era. E mesmo assim faz dele coroa de glória e arma de arremesso, como aconteceu em relação ao José Luís Hopffer Almada, pelo simples facto de este ter comentado na rádio o desnível entre a obra vencedora e a obra preterida, acusando o meu homónimo e confrade de frustração e inveja.
Posso testemunhar a generosidade do JLHA, nas leituras que tem feito dos escritores da sua geração, por vezes tão generoso que se abeira do afrouxamento dos critérios estéticos que devem sempre presidir a tal empresa.
Não desvalorizo o papel que outros intervenientes tiveram no desfecho desse prémio, até porque há versões bastante desencontradas que foram sendo ensaiadas para justificar o sucedido. Mas os gestos de genuína e poética admiração, testemunhados nos anos subsequentes, fazem com que isso fique apenas como a lembrança de um mau passo, e nada mais. E se o refiro aqui é apenas para dar testemunho das contradições em que por vezes nos enredamos nos meios pequenos quanto se trata de julgar com isenção, sem amiguismos ou facilitismos, quando não mesmo da prevalência ainda, em certos meios culturais nossos, de caducas ideologias estéticas.
6.
Diz a presidente da ACL, ou ela pelo júri, que o prémio se destinava a livros inéditos. Falso. Nenhum ponto do regulamento, por mais torcido ou retorcido, permite esta leitura. A única referência próxima desse entendimento seria aquela que fala de obras originais, mas éditas, logo nunca inéditas. Também por aí, numa interpretação que a letra do regulamento não autoriza, haveria erro na interpretação, porquanto a minha obra é original no verdadeiro sentido, isto é, em termos substanciais, porque supera aquele horizonte de expectativas habituais, e é formalmente original dado se apresentar directamente na língua em que foi escrita, não sendo, portanto, tradução, retroversão, versão ou adaptação.
Se o que se pretendia eram livros editados, contendo integralmente textos publicados em primeira edição, isto deveria estar no regulamento ipsis verbi. Se era essa a intenção, o domínio deficiente, até do português burocrático, não o permitiu. Que isto não sirva, instrumental e manhosamente, para o abate de obras, por serem da autoria de quem malqueremos: o regulamento deve ser visto como um contrato. Se há ambiguidades ou erros, eles não devem prejudicar quem não o redigiu.
É legítimo interrogarmo-nos se nessa interpretação radical do regulamento, que a presidente da ACL diz ser do júri, este esteve sozinho ou se foi instrumentalizado na sua boa fé, porque, caso assim não fosse, certo livro teria mais probabilidade de ser o escolhido; ou se o não fosse, e fosse outro, não haveria, literariamente falando, forma de se esconder o logro. Digo isto porque já me tinham chegado eco de certas movimentações espúrias durante o Prémio BCA de Literatura, que eu ganhei, mas aí as condições de salvaguarda eram outras: livros inéditos, júri presidido pela Doutora Fátima Fernandes, seriedade do patrocinador que, ao que transpirou, pregou uma valente ensaboadela à presidente da ACL por razões que não enumerarei aqui agora.
Porém seja isto dito: do júri não tenho razões para desconfiar, mesmo que discorde da interpretação que dizem ser a sua. Ele não pode ser probo quando nos premeia e o contrário quando deixa de fazê-lo, embora as condições de salvaguarda acima referidas possam ter feito toda a diferença, evitando possíveis interferências ou condicionamentos. O que é estranho, e me faz suspeitar de algo mais, é o que aparece na suposta acta. As condições de admissibilidade ao prémio são verificadas ab início, e não após apreciação e valoração das obras.
Outro aspecto é a qualidade conceptual dessa apreciação. Por muito que me custe (e, creiam-me, custa-me, porque há pessoas nesse júri que conheço e estimo), não posso ignorar, como estudioso e operário da literatura, os termos em que essa leitura é-nos apresentada no que concerne a Lisbon Blues. Senão, vejamos:
A obra Lisbon Blues, da autoria de José Luiz Tavares, é constituída por 78 poemas, dos quais 76 já foram publicados na obra Lisbon Blues Seguido de Desarmonia, em 2008, no Brasil. O júri constatou que apenas os poemas “A Visão do Vendedor de Pipocas” (pp 12,13,14) e “Lisbon Blues” (pp. 58-59) não constam da obra de 2008. Tratando-se do Prémio Literário “O Livro Mário Fonseca”, o júri decidiu pela exclusão desta obra à luz do regulamento. Não obstante esta decisão, o júri reconhece que a poesia subscrita por José Luís Tavares se inscreve no modo lírico, com específicas propriedades, de que se destacam o processo de interiorização lírica decorrente de um sujeito poético egocêntrico e individualista, mas não alheio ao que se passa em seu redor, que se coloca no centro de um determinado universo, com capacidade e apetência para a contemplação e admiração de um universo em que se movimenta, mas que não compreende e não conhece. Lá tudo é objeto de conhecimento. O processo de subjetivação traduzido na presença insistente de um eu que se expressa através da primeira pessoa verbal e na visão subjetiva das coisas e dos seres não segue as leis da representação, mas as formulações simbólico-imagéticas e metafóricas inscritas no ato de criação literária, inerentes a um processo de evocação de sentidos, um processo significativo decorrente da vocação ritmo-melódica do texto lírico. Lisbon Blues propõe a fusão de contextos culturais distintos (Lisbon e Blues) pela evocação e transposição do contexto de produção dos sons, da musicalidade, da expressividade e da improvisação dos blues para um contexto de encontros de culturas e de cantos da alma.
Cantos da alma, pois. A minha alma é que estaria varada de susto se não estivesse já vacinada. Encontros, sim, com uma conceptualização esotérica, ou como diria um amigo meu «depois da fase das papoilas, agora chegamos à missa negra».
A estética fenomenológica heideggeriana não tinha já destruído essas categorias nas quais se tenta aprisionar toda a potência e abertura que a obra de arte é, libertando-a para assumpção desse modo de verdade primeira, sem mediação, que os antigos gregos denominavam aletheia? E não o fizera também, de modo outro, Gilles Deleuze no seu empirismo transcendental, através da magnificação de forças em que se passa do juízo à experimentação, numa actualização da estética fisiológica de Nietzsche?
Um livro como Lisbon Blues exige um ir mais além da pobre dieta escolar que nos é servida à laia de leitura, alicerçado numa cultura poética indubitável e na actualização dos pressupostos teóricos que devem reger qualquer leitura informada. Não basta ser professor de português ou doutra qualquer disciplina das chamadas humanidades para se estar habilitado a julgar obras de arte literária. Razão tinha o Professor Pires Laranjeira quando recentemente se perguntava: quantos podem ler o José Luiz Tavares em Cabo Verde?
Para fazer um justo contraponto, deixo aqui um excerto de luminosa claridade, do mesmo académico, um dos mais reconhecidos no domínio dos estudos das literaturas africanas em língua portuguesa:
«É provavelmente o poeta mais inusitado que surgiu nas literaturas africanas de língua portuguesa após as independências dos países. Cáustico, irreverente, aliando o classicismo das fontes e o conhecimento vasto da poesia universal ao canto da terra pátria, numa linguagem simultaneamente antiga e moderna, tem uma voz poderosa e altissonante, de uma criatividade completamente fora do habitual, que surpreende pela eloquência e ironia, como se uma raiva profunda chegasse domada, feliz, em forma de soneto, paradoxalmente, cuspindo fogo e melancolia.” (In Jornal A nação, Fevereiro de 2010).
7.
A esta altura o leitor já se apercebeu que, na sua concreta factualidade, o prémio foi apenas uma excelsa oportunidade para abordar questões outras, ligadas à literatura e às suas instituições.
A presidente da ACL fala em decisão do júri, mas são tantos os episódios de mau procedimento que me levam a duvidar da regularidade de tudo em que esteja envolvida, sem benefício da dúvida.
A senhora tem legitimidade formal para ocupar o cargo. Ponto. Concorreu e foi eleita, embora após o falecimento do Corsino Fortes quisesse alcandorar-se dinasticamente ao cargo, sem necessidade de legitimação pelo voto. Dou-lhe só um exemplo de mau procedimento: na última assembleia da ACL, onde foram admitidos novos membros, que eu saiba, não informou que alguns daqueles nomes tinham sido propostos, com um texto a fundamentar a proposta, pelo José Luís Hopffer Almada, esse mesmo que após a edição do seu livro vencedor do prémio Sonangol de 2004, e do meu que fora preterido, constatando a substancial diferença quer em termos de novidade, quer do apuro estético, fizera na rádio os comentários que entendeu pertinentes, tendo vossa senhoria reagido furiosamente, acusando este confrade nosso de inveja e frustração. Teve o devido troco na altura no programa semanal da RDP África onde é comentador. Mas, como palavras ditas leva-as o vento, entendi que ele deveria reagir em texto escrito, num suporte mais perene. Se o tivesse feito, das duas uma: ou teria servido de pedagógico ensinamento e freio, e ter-me-ia poupado a este catártico fundibulário, a esta desinfestante incursão, mas também retirado o prazer deste exercício de fogo real, que espero de alcance eficaz.
Como vê, caro leitor, kel pon kenti li staba guardadu pa mes di maiu, embora maio tenha sido este ano em fevereiro, pois com as mudanças climáticas mais cedo chegou o calor à primavera.
Conhecedores da experiência desastrosa que foi a sua passagem pela presidência da Associação de Escritores Cabo-Verdianos (AEC), em que foi necessária a sua remoção e a criação de uma comissão de gestão encabeçada pelo Tomé Varela, um grupo de membros da Academia, embora tardiamente, tentou impulsionar uma outra candidatura para o qual fui convidado a dar, e dei, o meu apoio. Só que a candidatura não avançou porque a personalidade convidada para a encabeçar entendeu que por ser a Academia uma instituição novel, ainda pouco alicerçada, haveria o risco duma fractura antes da sua consolidação. Isto e a promessa da actual presidente de que faria apenas um mandato. Que a cumpra.
De realçar aqui que não tenho afecto nem desafecto pela pessoa da Vera Duarte, mas reservas intelectuais, e discordâncias no que toca a atitudes e procedimentos concretos que tenho vindo a enumerar e a comentar. Apenas por três vezes a vi na vida: a primeira em setembro de 2004 (as outras duas em dezembro de 2014 no lançamento de Coração de Lava, e janeiro de 2016 na apresentação da edição portuguesa de Lisbon Blues), quando os nossos livros, motivos de posterior celeuma, com relação ao prémio Sonangol, foram lançados durante a feira do livro português no Centro Cultural do Mindelo, sendo que esse livro, Agreste Matéria Mundo (há muito esgotado) foi apresentado pelo escritor português Francisco José Viegas, que estando nessa altura a escrever o romance Longe de Manaus meteu o Corsino nele como personagem, embora sob um outro nome.
O outro, Paraíso Apagado por um Trovão, livro que ele amava como ninguém, foi apresentado pelo próprio Corsino Fortes. Ele teve o primeiro contacto com esse livro em fevereiro de 2004, durante as Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim, onde foi lançado. (Houve outras inúmeras apresentações organizadas pelo José Luís Hopffer, a quem nunca é demais agradecer o percurso de sucesso desse livro. Aliás, foram tantas as apresentações que até já brincávamos dizendo que se Bush tinha inventado a guerra infinita, o meu confrade inventara o lançamento infinito).
O impacto desse livro em Corsino Fortes foi tal que, na manhã (ele chegara durante a noite) do nosso primeiro contacto, pois eu nunca o vira de perto, ao pequeno-almoço, sentados à mesa onde também se encontrava o Michel Laban, depois das apresentações e dos elogios superlativos ao livro (deixara-o para ele na portaria do hotel), disse quase de cor o poema que começa «nomeaste a casa/suas traves suas dobras/o pulsar assombroso das ombreiras/a tresmalhada luz cauterizando/ o lado lacerado pelo esquecimento» e termina «nomeaste a casa/círculo de lava à luz do solstício/cada trave agora em chamas/relembra-te que és Sísifo e nada mais».
O Corsino amava tanto esse livro (o outro de sua grande afeição é Coração de Lava) que inúmeras vezes insistiu comigo para que o enviasse para o Prémio Jorge Barbosa da AEC em 2006, mas, por pirraça, devido ao que sucedera no prémio sonangol, enviei apenas Agreste Matéria Mundo, não dando ao júri hipótese de escolha, pelo menos no que dizia respeito a livros meus. Ganhou, sem nenhuma surpresa.
Sobre Coração de Lava, essa longa peregrinação através da escrita, na invenção de um telurismo ontológico, tomando como referências icónicas o Vulcão do Fogo e a paisagem de Chã das Caldeiras, e que Corsino apelidou de espectrografia da terra e da alma caboverdeanas, mesmo já muito doente, ainda assim fez questão de passar pela Biblioteca Nacional no dia do lançamento, 30 de dezembro de 2014, para levar o seu exemplar devidamente autografado. O Corsino conheceu esse livro ainda inédito, pois encabeçou um júri que o escolheu como vencedor de um concurso para financiamento de obras inéditas, aberto em 2013 pela Biblioteca Nacional. Foi este o livro vencedor, e não qualquer outro, como já vi propalado por aí.
Caro Corsino, lá nas alturas onde estás, só lamento não ter percebido que a nossa última conversa era de despedida. Mas, recordá-la aqui hoje dá-me alento para esta e outras pugnas, embora cônscio de que era coisa que não apreciavas. Isso e aquele límpido riso na tua cara de basalto, quando à esquina de um meio-dia te mostrei aquele malcriadíssimo poema, que não provocará nem um leve zunzum porque o mundo já não se escandaliza com tais coisas.
8.
Para a presidente da ACL os seus membros subdividem-se em comparsas&camaradas, tolerados e inimigos&excomungados. Eu estarei nesta última categoria, se bem que nunca declarado, pois para tanto seria necessário grandeza intelectual e a necessária frontalidade que nunca são apanágios de criaturas tais.
O Corsino Fortes tinha-se proposto vir a Lisboa colocar-nos, a mim e ao José Luís Hopffer Almada, as faixas de membros da Academia. Infelizmente, a doença, depois a morte, não lho permitiram. Mas eu vou a Cabo Verde inúmeras vezes, sempre com aparições na rádio, jornais e televisões, mas nunca ma propôs, nem mesmo quando lancei livros e a presidente da ACL esteve presente.
Tendo vindo a Lisboa recentemente para uma falação sobre literatura e género, ignorou olimpicamente que o José Luís Hopffer Almada nunca recebeu as suas faixas de membro da academia, instituição que ele tem em melhor conta do que eu. Esse mesmo que, distinguindo bem entre as questões pessoais e o papel institucional, ainda pensou em organizar um encontro com a presidente da ACL na Associação Caboverdeana de Lisboa, de que é vice-presidente.
Que condições tem uma pessoa que assim age para dirigir uma academia nacional de letras, não separando a necessária postura institucional das quezílias particulares, procurando como fito apenas as luzes da ribalta e a glória pessoal não derivada do trabalho abnegado e continuado como criador, mas através da instrumentalização e das conexões que esse cargo proporciona?
Houvesse vontade, no meu caso, a cerimónia da entrega do prémio BCA seria uma boa ocasião. Mas esse também é outro caso elucidativo do que acabo de dizer: fui informado da decisão do júri por volta das 21 horas portuguesas, através dum telefonema, o mais estranho que já recebi a comunicar-me a vitória num concurso, solicitando, sem ver se havia outra alternativa, que indicasse um representante para a cerimónia da entrega do prémio no dia seguinte. Apenas acedi a ser representado na cerimónia após conversa com alguém que muito respeito, mas recusando qualquer palavra minha, por interposta pessoa, durante a cerimónia. Apenas um obrigado, para causar desconforto, se alguém fosse capaz de senti-lo. Não sou um indivíduo que acredite no fidiputismo universal, mas que ele há coisas, há.
Quem teria interesse em que o José Luiz Tavares não estivesse presente na cerimónia da entrega do prémio que ele ganhara justamente? Não o patrocinador, de certeza, que pretenderia sempre o maior impacto mediático possível para um prémio por si patrocinado. E quem mais talhado para tal, e para nobilitar o prémio, do que ele ser entregue na sua primeira atribuição ao escritor caboverdeano mais premiado de sempre? (Peço novamente a sua indulgência, caro leitor, socorrendo-me agora já não do Eclesiastes, mas de Quinto Horácio Flaco que escreveu: «minha soberba, tu,/aceita-a — eu mereci.»)
9.
A esta altura o leitor interrogar-se-á porque permaneço na Academia se é este o retrato que faço de quem a dirige, se não há uma grande contradição em tudo isto. Efectivamente, como já disse na aludida entrevista ao Expresso das ilhas, aceitei entrar para a Academia, mesmo com todas as reservas, pela amizade que tinha ao Corsino, sem escamotear as sãs diferenças de ponto de vista que fraternalmente mantínhamos sobre questões literárias.
Numa auto-análise chamei a isso o meu complexo neo-realista: aceitar prolongar pelo afecto aquilo que rejeito pela reflexão. Mas, desaparecido fisicamente o Corsino, não restam razões de afecto para eu lá permanecer, alvitrará, e bem, o leitor. Mas sobram ainda outras razões, não sei se justificativas ou não, para eu lá permanecer, pelo menos formalmente. É que me dá um gozo danado, porque sei que isso chateia algumas dentaduras, e gostaria até que intentassem um processo de expulsão, mas não têm audácia para tanto: pequeninos até no desafecto. E há mais: sucede que o meu patrono é o João Vário — quantos nesta terra teriam estaleca para arcar com um colosso de tal envergadura?
Vós é que não, senhora, pois às vossas mãos as palavras sofrem horrores: essas formosas cadmeias, filhas de Cadmo e Harmonia, tornam-se pigmeias na vossa penosa pena; guincham, cobrem-se de nódoas negras, no desespero encolhem-se perdendo aquele fulgor que, na poesia, as subtrai ao peso da transitoriedade para se tornarem vida transcendente, mesmo se enformada da carne do mundo.
Acreditai, senhora, houvesse tal necessidade, vós seríeis uma Torquemada da palavra.
Mas porfiai uma e outra vez e pode ser que um dia possais discutir com José Luiz Tavares questões substantivas de literatura, que não estes pintelhos, perdão cabelos, que mais não são que defeitos de fabrico.
E para que não durmais um único dia descansado, mas permaneçais naquela angústia velada de poder ver o terrível Tavares arrebatar aquele prémio que tanto ambicionais, ou até aquela simples crítica de jornal, e pelo qual daríeis este mundo e até o outro: vou candidatar-me a todos os concursos ou prémios que me apetecer, em Cabo Verde ou na lua, que livros os há aos montes, e mais ainda haverá, para desespero vosso e proveito dos meus leitores, assim a mente sã, a mão firme e o coração leve me sejam seguros companheiros nesta estrada de escolhos, na terra de deus ou do diabo.
Escrito com fúria e gozo, em português de lei, aos 11 de fevereiro de 2017, uma sexta-feira do senhor, antes de sair para o Rossio para umas cervejas e uns tremoços com os meus amigos que me fazem ter sempre presente a dádiva maior que é a amizade, face à pesporrência ignara e a canalhice matreira deste mundo e de outros.
10.
FALA DA MÃE SOBRE O SEU MENINO
Inclino-me não para a servidão,
mas porque se me rompem as águas
da parição. O júbilo de um grito
penetra o mundo pela primeira vez.
Grande nos acertos e nos desastres há-de ser.
Mas haja misericórdia para o seu corpo
mofino e a ousadia que sai de sua boca.
É junho de fogo com fartura,
mas a água de um sorriso varre
a ferocidade do estio, pousa no coração
das penedias procurando deus
nos passos cansados dos caprinos.
Não vem de costas para o mundo,
mesmo se ao verbo predestinado,
desatino no peito, ardor no assombro,
nem por engano da raça do grande
caolho, luiz de sua graça,
luz dos meus olhos secos
bebendo do poente as águas sobreviventes.
E há-de ser
guardador de corvos e de cabras,
estremecer nos janeiros de griso e cieiro,
tempo para os desastres da meninência terá,
seguro já duma sabedoria que descobre
a queda como desígnio do humano.
Por isso se levanta do anonimato dos dias
rodando direcção da vala comum,
mesmo se com seus domingos em que o deus
não comparece ao chamado da multidão
todo o dia aguardando no sopé da serra,
mas sabe que o divino tem os seus disfarces
e a grande murmuração é obra de um diabo
velho que sempre vem contar às criancinhas
as suas façanhas com voz triunfante
e nenhuma humildade, razão dessa altivez
que projecta para lá dos consentimentos
do mundo a sua cabeça de eterno menino.
Tão tímido e singular,
tem no desatino o furor das ondas
que lhe embalaram a meninice
na estreiteza da terra, no colo da mãe,
benévola no reprimir das faltas
que foram sempre uma curta conta.
Por isso lhe acho natural os pés
na lama e a faca nos dentes
ou a cabeça encostada às altas luzes
no exercício do que rasga fronteiras
e é simples pedra trazida
do terreal paraíso da infância.
José Luiz Tavares, poeta somente.
DADOS BIO-BIBLIOGRÁFICOSJosé Luiz Tavares nasceu a 10 de Junho de 1967, no Tarrafal, ilha de Santiago, Cabo Verde. Estudou literatura e filosofia em Portugal, onde reside.
Publicou: Paraíso Apagado por um Trovão (2003); Agreste Matéria Mundo (2004); Lisbon Blues seguido de Desarmonia (2008); Cabotagem&Ressaca (2008), Cidade do Mais antigo Nome (2009); Coração de lava (2014), Contrabando de Cinzas (2016).
Recebeu os seguintes prémios: Prémio Revelação Cesário Verde, CMO 1999; Prémio Mário António de Poesia, Fundação Calouste Gulbenkian (2004); Prémio Jorge Barbosa, da Associação de Escritores Caboverdeanos (2006); Prémio Pedro Cardoso, Ministério da Cultura de Cabo Verde (2009); Prémio de Poesia Cidade de Ourense (Espanha, 2010); Prémio BCA/Academia Caboverdeana de Letras (2016). Por três vezes consecutivas - 2008, 2009, 2010 - recebeu o Prémio Literatura para Todos do Ministério da Educação do Brasil, por livros destinados a neo-leitores jovens e adultos. Foi ainda finalista do Prémio ibero-americano Correntes d’escritas/Casino da Póvoa (2005), e semi-finalista do Prémio Portugal Telecom de Literatura (Brasil, 2009). Trabalhos seus estão traduzidos para inglês, espanhol, francês, italiano, catalão, letão, finlandês, russo, mandarim e galês. |
 homepage
homepage