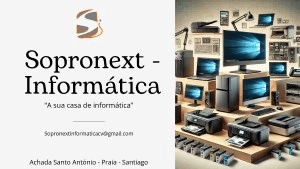Odair Barros-Varela, Especialista em Assuntos Africanos, falou com o Expresso das Ilhas tendo como ponto de partida o momento africano actual, ou o ponto de viragem, como referia o relatório da Fundação Mo Ibrahim, publicado na última semana. O crescimento económico e a educação, a democracia e o seu retrocesso, o terrorismo e a Agenda 2030, e onde é que Cabo Verde se insere em todas estas problemáticas são os temas abordados.
Mo Ibrahim, Presidente da Fundação, disse: “A energia e ambição dos jovens africanos é nosso maior recurso e melhor esperança para impulsionarmos o progresso do nosso continente. Contudo, as suas expectativas podem transformar-se em frustração e revolta, a não ser que encontrem emprego e tenham a oportunidade de influenciar seu próprio futuro. África encontra-se num ponto de viragem. As decisões tomadas agora determinarão se o nosso continente continua a crescer ou retrocede. Mais do que nunca, uma liderança prudente e uma governação sólida são fundamentais.” Crescimento vs. retrocesso, este é, na sua opinião, o grande desafio que o continente enfrenta?
A meu ver, o crescimento, que vulgarmente se lê na linguagem economicista dominante como sendo “crescimento económico”, é, neste caso, erroneamente equiparado ao conceito de desenvolvimento que, por conseguinte, é reduzido à sua vertente económica, ou seja, à taxa do crescimento do PIB, mesmo que se esteja referindo ao PIB per capita. Nas últimas décadas, as principais instituições internacionais, como a ONU, FMI e BM e outros actores internacionais, têm procurado alargar o alcance do conceito de desenvolvimento concedendo-lhe vários epítetos como o de desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável (deriva daí os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU) e, ultimamente, de desenvolvimento alternativo que procura, de acordo com os seus defensores conceder uma cara mais humana ao capitalismo neoliberal traduzindo-se numa espécie de capitalismo ecológico. A meu ver, um dos maiores desafios do continente passa por ultrapassar, justamente, o que se apelida de discurso desenvolvimentista que vem sendo imposto e, simultaneamente, sufragado pelas elites dirigentes do continente desde os finais da década 50 do século XX. Por outras palavras, mais do que um desenvolvimento alternativo, África, e o mundo, devem procurar alternativas ao próprio Desenvolvimento enquanto modelo de vida. Ou seja, centrando-se no campo económico, é necessário reconverter o modelo de produção, de inspiração capitalista neoliberal, que se baseia em indústrias extractivas de matérias-primas deveras poluentes e extremamente nocivas para a saúde. Este modelo, para além de alimentar as clássicas indústrias transformadoras dos EUA e Europa Ocidental e, actualmente, de Estados que sufragaram o mesmo modelo como são os casos da China, Índia e Brasil, não conduz à transferência de tecnologia, à produção endógena de conhecimento e de tecnologia e, por consequência, leva um contínuo retrocesso em termos de qualidade de vida das populações. São estas que fornecem o grosso da mão-de-obra não qualificada e sazonal explorada por essas “indústrias de sangue”. Igualmente, as comunidades locais não têm acesso à maior parte dos ganhos destas indústrias, que estão nominalmente nas mãos das grandes companhias multinacionais e das elites políticas locais e estrangeiras que controlam o processo produtivo, e também elas são os principais alvos das externalidades negativas do ponto de vista ambiental. Então surge um aparente paradoxo: assiste-se a um crescimento económico em simultâneo com o aumento do desemprego em África.
Daí que o último relatório da Fundação Mo Ibrahim, publicado esta semana aponta que das 25 economias mundiais com o crescimento mais rápido entre 2004 e 2014, dez são africanas e, em simultâneo, estas economias não criaram mais emprego para os jovens, na medida em que quase 30 milhões de jovens africanos estavam desempregados em 2015.
Um dos caminhos para essa referida reconversão ou, para outros, revolução económica e social, passa por resgatar e apoiar as novas formas de produção capitalistas que se situam fora do expectro neo-liberal e, portanto, integradas na natureza, ou em comunhão com o meio ambiente que, assim, deixam de ser vistos apenas como produtos de exploração. Um outro passo constitui a aposta no vasto campo das economias solidárias que, após o término da Guerra Fria, foram ostracizadas devido ao triunfo do neoliberalismo, personificado no “consenso de Washington”, que procedeu a uma injusta conotação com o bloco soviético na medida em que as economias solidárias iam muito além das economias planificadas estatizantes de inspiração soviética apesar das tentativas de as dominar e controlar como até aconteceu, por exemplo em Cabo Verde. A economia solidária não rejeita a ideia do mercado e nem a concepção da “economia de mercado”. Mas posiciona-se contra a transformação da sociedade num mercado, ou num produto de exploração, no qual nem a própria natureza escapa. Para além de integrar formas não capitalistas-neoliberais de produção como as cooperativas, elas também abarcam o universo das economias informais que constituem a base das economias africanas em contraste com as incipientes economias nacionais formais. Portanto, no meu ponto de vista, fazer da economia solidária a alavanca do continente para as próximas décadas seria a aposta mais acertada.
Cabo Verde pode ser visto também sob estas palavras?
O nosso país vive um momento sui generis em termos de governação. Se não estou em erro, desde a independência, em termos de programa, ou políticas públicas programadas, e em termos de liderança dos Ministérios, este é governo de cariz mais economicista que já exerceu funções. Isso significa que há uma grande aposta no campo económico como sustentáculo do Estado cabo-verdiano para os próximos anos e como forma de cumprir uma das promessas eleitorais principais do partido vencedor das últimas legislativas: a diminuição de desemprego, principalmente do desemprego jovem. Só assim se percebe que, também, de forma inédita, este governo tenha elegido a Integração Regional como uma das pastas afectas ao novo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades. Ou seja, procura-se, em primeiro lugar, apostar no aumento da produção interna visando a exportação para o mercado da sub-região Oeste Africana com o objectivo também de tentar debelar o referido desemprego na camada juvenil. Em segundo lugar, procura-se fazer frente à diminuição da chamada Ajuda Pública ao Desenvolvimento e a elevação do país ao estatuto de país de rendimento médio, o que obriga à procura de investimento directo estrangeiro em espaços regionais prioritários, nomeadamente em África, cujo mercado com mais de 1.000 milhões de potenciais consumidores e com uma pujança demográfica crescente.
Neste momento, é o continente com a população mais jovem e, segundo os dados da Fundação Mo Ibrahim, em 2050 a população jovem africana será o dobro da registada em 2015.
O que implica grandes investimentos internos em diversos sectores produtivos para fazer face a esse boom demográfico, tornando-se num alvo altamente apetecível para as grandes empresas chinesas, indianas ou brasileiras que, nos últimos anos, estão a investir no continente, em concorrência com as tradicionais europeias e norte-americanas. É evidente também que esta aproximação de Cabo Verde ao continente e à sua sub-região não é alheia à “pressão” da União Europeia no sentido de Cabo Verde acelerar a sua Integração Regional que constitui um dos pilares da Parceria Especial assinada com Cabo Verde em 2007, estando esta organização internacional interessada no papel de intermediário que Cabo Verde pode ter na sua pretensão de também de conquistar o mercado de trezentos milhões de pessoas da CEDEAO, fazendo cair por terra o sonho de alguns círculos da política e da intelectualidade cabo-verdiana e da ex-metrópole de ver o arquipélago como membro da União Europeia. Contudo, tal como defendi para o continente, nas ilhas o grande desafio, no campo económico, passa pelo resgate das formas tradicionais de economia social e solidária (que se pode traduzir na expressão cabo-verdiana de “djunta mon”) que permitiram às populações sobreviverem à dominação colonial e à estatização da economia durante do regime de Partido Único, como forma de não só alargar o campo de actuação do governo mas também o espaço de participação de diversas formas de economia, como as economias informais que, ao contrário do que se quer fazer crer, podem ser complementares à economia nacional e não actores concorrenciais ou anómalas do sistema económico. O conhecimento profundo da forma de operar deste tipo de economias pode permitir ao governo ter melhores elementos para definição de políticas públicas a respeito. Nesse caso, não cabe apenas à Ciência da Economia, ou à Economia Política, fornecerem esse conhecimento mas também à Ciência Política e à Sociologia Política, na medida em que, na esteira de Georges Burdeau, o facto económico constitui “o facto fundamental de politização da sociedade”. A título de exemplo, a académica Marzia Grassi (2007:106), estudando o caso dos/as rabidantes cabo-verdianos, que são os actores principais da economia informal em Cabo Verde, critica acertadamente a Ciência da Economia por tratar a economia informal como uma doença – como um sinal do mau funcionamento do sistema e um como sector não produtivo –, por não considerar os seus protagonistas como “empreendedores” e por não olhar para a forma como as sociedades africanas são capazes de “aceitar e integrar valores, comportamentos e práticas da modernidade” e terem a sua própria dinâmica, capaz de responder aos desafios do exterior.
Como, na sua opinião, se conseguirá alcançar o crescimento económico inclusivo? Instrumentos como a Agenda 2030 – que tem como slogan ‘ninguém fica para trás’ – são, de facto, exequíveis?
Tendo em consideração os dados da Fundação Mo Ibrahim que apontam, por exemplo, que mais de 1/3 da população com educação superior do Quénia, Uganda, Libéria, Moçambique e Gana deixou os respectivos países, que os jovens estudaram durante mais tempo, mas poucos adquiriram as competências que a economia precisa e, que finalmente, nos próximos 35 anos a população urbana em África vai praticamente triplicar, é relativamente fácil de constatar que o modelo económico vigente é muito pouco inclusivo e que dificilmente a agenda 2030 será exequível. A ocorrência do brain drain não tem a ver apenas com a falta de emprego mas sim com a estrutura extravertida dos sistemas de ensino superior em África que, por seguirem os ditames das antigas potências colonizadoras e das principais instituições internacionais como a UNESCO, não formam os jovens para darem conta das necessidades económicas dos seus Estados mas sim para servirem os interesses do mercado global do ensino superior e para alimentarem, ou serem o seu exército de reserva, as indústrias extractivas de matérias-primas e do petróleo dos seus Estados. Daí que a ida para as zonas urbanas e a saída para o exterior desses jovens constitua uma verdadeira sangria no seio da população activa qualificada dos seus respectivos países e que vai beneficiar as economias dos Estados centrais europeus, os EUA, o Canadá, etc., com a contínua injecção de quadros qualificados, embora mal pagos, em contraste com a diminuição da qualidade dos quadros e, por consequência, das políticas públicas dos Estados africanos emissores, e com o aumento da perseguição da elite política à uma classe intelectual cada vez mais enfraquecida por esse brain drain. Para além de ser fundamental o rompimento com o referido sistema de ensino superior, e centrando a aposta na formação em domínios considerados endogenamente como sendo estratégicos, a minha perspectiva é de que para a economia ser cada vez mais inclusiva é preciso, antes de mais, reconhecer a existência daquilo que chamo de econo-diversidade. Ou seja, para além da economia nacional formal deve-se partir do princípio de que as sociedades albergam uma diversidade de formas e de sistemas económicos. Partindo dessa base, é possível, por exemplo, escrutinar o lado social e/ou solidário das economias informais. A apreensão da diversidade e o peso das economias informais, e a abertura de novas formas de compreensão aprofundada das mesmas, contribui não só para a transcendência do campo da economia oficial como também para o alargamento do espectro do campo económico possibilitando a visibilidade e emergência de economias alternativas e o aumento da econo-diversidade (a necessidade de sua legitimação implica também a obrigatoriedade do reconhecimento da existência de ferramentas analíticas e horizontes epistemológicos diversos) por forma a combater o domínio da economia neoliberal que promove, por sua vez, uma perda da diversidade económica ou aquilo que denomino de economicídio. Um reconhecimento desse tipo novo de economia (alternativa) poderia minar a actual reprodução da posição de dependência do Sul Global na economia global – já que as actividades da economia informal se limitam actualmente à exportação de produtos primários e à importação de serviços e manufacturas – e, consequentemente, minar também a base neoliberal dessa economia. Esta minha visão enquadra-se na área da Economia Política crítica africana –na esteira de Thandika Mkandawire (1999:43) – e na Ciência Política africanista cuja tarefa consiste em trazer a transformação social de volta à agenda em África de acordo com Abdul Raufu Mustapha (2006). Mkandawire argumenta, por exemplo, que o neoliberalismo clama pelo mercado, mas parece não saber lidar com o “capitalismo realmente existente” no continente africano, na medida em que o Estado é distanciado dos capitalistas locais [que operam, em grande medida, no âmbito das economias informais] em vez de se procurar criar alianças entre eles com o fito de promover o crescimento económico. A ideologia neoliberal, com uma orientação virada em exclusivo para o lucro, confere primazia aos tecnocratas do FMI e BM transformando o Estado num prestador de serviços por excelência. Desta forma, ele perde toda a sua capacidade enquanto agente de transformação económica e social, e a “fé” neoliberal de que o mercado pode substituí-lo nesta tarefa, não passa de uma miragem, sem suporte histórico.
Considera real o risco de recessão da democracia no continente?
Bem, se está a referir ao risco da degradação das democracias representativas de cunho liberal em África, infelizmente isso não constitui novidade na medida em que essa recessão começa a ocorrer em simultâneo com a importação do modelo democrático liberal no início da década de 90 do século XX após o final da Guerra Fria. A minha pesquisa na última década, e outras pesquisas efectuadas no campo da teoria democrática, demonstram que, efectivamente, é esta importação que constitui o germe desta mesma recessão. Durante a Guerra Fria, por exemplo, os Estados Unidos da América (EUA) e a ex-União Soviética patrocinaram a manutenção de elites autocráticas e de regimes militares no poder, em detrimento do reconhecimento e legitimação de sistemas políticos endógenos. Os “vencedores” desta Guerra, EUA, a partir da década de 90 continuaram a seguir basicamente a mesma política, apesar de revestida de nova capa: as elites dos Estados africanos agora devem apoiar as regras básicas do jogo democrático liberal que se sustenta na realização sazonal de eleições multipartidárias. É evidente que este não constitui o espaço para uma dissertação sobre o processo que levou ao regresso dos valores democráticos liberais em África nos anos 90, e falo de “regresso” porque esses valores que já tinham estado em voga no continente não só durante a luta pela independência como também após a independência nos finais da década de 50 e inícios de 60 do século XX. O que posso afirmar é que esse retorno foi um fracasso na medida em que, salvo raras excepções, a maioria das transições para democracias representativas liberais redundaram em conflitos violentos pós-eleitorais e em diversas guerras civis. Apesar de isso significar uma profunda crise de representação, e de contribuir para a redução da demodiveridade (diversidade de formas, modelos ou sistemas democráticos) do continente, os Estados ocidentais, que dominam o actual sistema internacional, continuam a patrocinar o jogo democrático liberal considerando que constitui a melhor via para se atingir aquilo que actualmente se apelida de “boa governação”. Contudo, esta não passa da promoção de uma democracia de “baixa intensidade”, desejada não só para mitigar as tensões políticas e sociais produzidas pelo anti-democrático e elitista status quo, mas também para asfixiar e suprimir as aspirações a mais participação democrática. Por isso, actualmente, a democracia representativa liberal, para além de suscitar muitas críticas nos próprios Estados ocidentais, torna-se num instrumento de expansão da governação global neoliberal, mediante um dos seus “consensos” que é o “Estado de direito democrático”. Em síntese, actualmente os condicionalismos políticos – que traduzem-se usualmente na aplicação da fórmula da “democracia representativa” e da receita do “Estado de direito” que, ultimamente, têm surgido sob o signo da “boa governação” – constituem os principais instrumentos de “coerção” utilizados pelos Estado ocidentais em África apesar de articulados com os condicionalismos económicos que ditavam as regras nas décadas de 80 e 90 do século passado. A “boa governação”, cujo significado pode ser bastante relativo, remete-nos para considerações morais que podem estar impregnadas de laivos e tentações neocoloniais sub-reptícias. Sobre a referida fórmula, é de notar, paradoxalmente, que a maioria das transições políticas africanas consideradas de sucesso não teve como base processos ditos democráticos. Apesar disso, algumas questões continuam a ser erroneamente colocadas, tais como, por exemplo, a forma de reduzir o tempo necessário para fazer a transição para a “democracia”, ou a questão de determinar os modos de aumentar as possibilidades da democracia ter sucesso. Tendo em conta o que foi dito, é inteiramente normal que as reivindicações sobre a “boa governação”, em vez de dar mais força aos Estados africanos, os encerre cada vez mais num ciclo vicioso de insucesso e dependência, apesar da chamada “ajuda” ao desenvolvimento estar, paradoxalmente, a diminuir. A minha visão, baseada numa pesquisa de mais de uma década, sustenta que uma das formas de pôr cobro a essa perda da demodiversidade passa por resgatar e reconhecer as formas endógenas de democracia em África que vão para além das versões eurocêntricas e dominantes da democracia socialista e da democracia liberal. Infelizmente, a seguir à independência, as tentativas de juntar as formas alegadamente tradicionais de democracia com o Socialismo científico de inspiração marxista (a que se apelidou de Socialismo Africano) nalguns Estados redundaram em fracasso não somente devido a factores externos (interferências dos dois blocos em confronto no contexto da Guerra Fria) mas também devido a acções de rapina das elites corruptas locais que tiveram como preocupação fundamental não o bem-estar geral das populações mas sim a manutenção do poder. O referido resgate e legitimação implica, em primeiro lugar um re-rastreamento das origens da democracia. Ao contrário do que defende a historiografia de cariz ocidental, que localiza a origem da democracia na Grécia antiga, eu sigo a linha da historiografia crítica africana que é apologista de que o espaço que com a colonização europeia passou a ser chamada de “África” constitui o berço da democracia. Isto porque a historiografia ocidental ignora, por exemplo, que a estrutura interna da “democracia ateniense” era muito semelhante ao sistema da Sais (ou Sa el-Hagar), a cidade capital do Antigo Egipto durante a dinastia XXIV e das repúblicas oligárquicas comerciais de Biblos ou Sídon, que não aceitavam a monarquia. O historiador norte-americano Martin Bernal, nos volumes da obra Atenas Negra (1987) é um dos defensores desta visão. De acordo com um outro historiador e filósofo argentino-mexicano, Enrique Dussel (2007:11), uma evidência, entre muitos outros, por exemplo, de que o antigo Egipto constitui um dos berços principais da democracia reside na etimologia da própria palavra “democracia”. Segundo Dussel, quando se fala em “demo-cracia”, o demos na língua egípcia significa “aldeia”, não sendo uma palavra de origem grega nem da suposta língua indo-europeia. Com esse re-rastreamento está-se a “des-truir” e desconstruir uma das palavras “mais técnicas, mais fundamentais da política grega”. O resgate simbólico da “aldeia”, enquanto espaço democrático, é fundamental para o futuro da democracia africana. E esta recuperação implica também o resgate e legitimação dos chamados “direitos da tradição” (os ancestrais) e dos “direitos da posteridade” (as futuras crianças), alicerces fundamentais das formas de “governo consensual” sobre as quais repousavam as antigas sociedades africanas. Em relação aos direitos da tradição, o antigo presidente da Tanzânia, Julius Nyerere, apresenta-nos a imagem dos “anciãos sentados sobre a grande árvore e falando, falando até quando julgassem ideal”. Para ele, a doutrina do consenso “formava um elo entre o presente e, simultaneamente, o pretérito e o porvir.” E constituía um “guia a conduzir a autêntica vontade geral, a verdade”. Ele remata afirmando: “Nós não necessitamos que nos ensinem a democracia, tanto quanto não nos falta ensinamento sobre o socialismo e [liberalismo]. Ambos estão enraizados em nosso passado, na sociedade tradicional da qual somos o fruto” (apud J. Isawa Elaigwu e Ali A. Mazrui; 2010:558-9).
Cabo Verde também corre esse risco?
A meu ver, em Cabo Verde, devido a processos próprios que não são possíveis de explicar agora neste artigo e que eu trabalho uma obra que vai estar brevemente no mercado, a introdução da disputa política na década de 90 do século XX deu, consequentemente, origens a conflitos políticos mas estes não atingiram um elevado grau que resvalasse para um conflito violento ou numa guerra civil, o que se traduziu num ganho assinalável para o nosso regime político. Contudo, para além de ser afectada tal como os restantes Estado africanos e do mundo pela perda da demodiversidade, a principal “doença” crónica do sistema política ilhéu constitui aquilo que denomino de (bi)partidite aguda. Apesar de constitucionalmente o sistema democrático ter por base o sistema de partidos (configurando-se na prática uma “democracia de partidos”), a meu ver é fundamental proceder-se a uma alteração desse figurino na medida em que apesar de serem muito importantes na sua engrenagem, os partidos políticos não constituem os principais, ou os únicos, motores de transformação social. É preciso reconhecer a presença e dar cada vez mais espaço a outros actores políticos que se situam para além do espectro estatal (o que vulgarmente se apelida de “sociedade civil” e seus protagonistas: ONG’s, associações, movimentos sociais, etc.), no sentido de se realmente “democratizar” a democracia, tornando-a cada vez menos elitista e formalista e cada vez mais participativa e inclusiva.
Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 802 de 12 de Abril de 2017.
 homepage
homepage