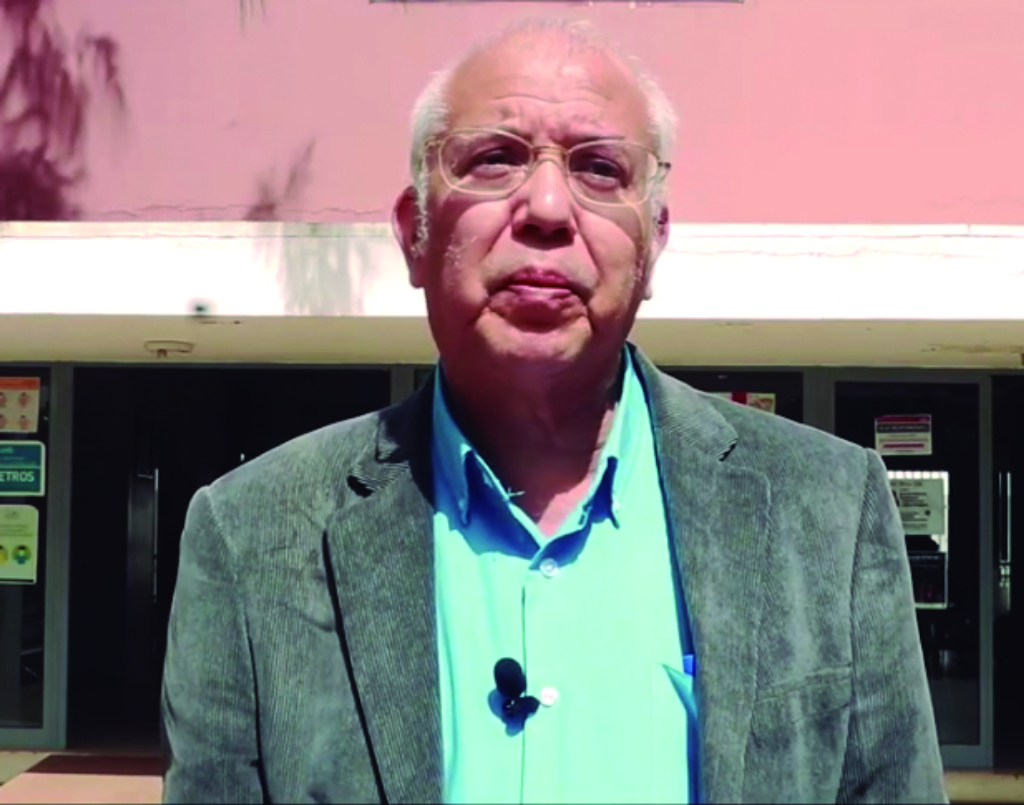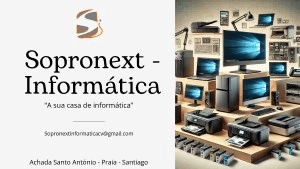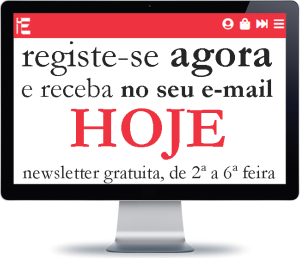O quadro em que se move a cultura renascentista é do humanismo, diferenciado em relação ao do teocentrismo medieval: Para o mundo medieval a cultura é eminentemente teológica, litterae divinae, para o da Renascença é humanista, litterae humanae. (Franco Amerio). O humanismo é geralmente identificado com o campo das letras, artes e filosofia, destacando-se do campo científico, mas há também referências a um humanismo científico. Figuras como Leonardo da Vinci cultivaram tanto as ciências e técnicas, como o das artes da pintura, escultura e arquitectura. Nele consuma-se o ideal renascentista do ser humano universal: inventor de máquinas e autor da pintura mais célebre da história da arte, a Mona Lisa, e da Última Ceia.
A teoria heliocêntrica, rompendo com o geocentrismo antigo e medieval aristotélico-ptolomaico, processa-se no Renascimento, com o astrónomo Nicolau Copérnico. É também nesta época encontramos a ideia de uma unidade das leis que regem o Universo. Enquanto Aristóteles considerava o mundo sub-lunar – a Terra – como o da imperfeição, mudança, instabilidade, nascimento e morte, o mundo supra-lunar dos astros é o da permanência e perfeição, para a ciência renascentista de Copérnico e Galileu as mesmas leis físicas regem a Terra e os astros. Da ciência para a filosofia estas concepções abrem o mundo limitado pelas esferas aristotélicas a uma concepção do ilimitado, e até do infinito. Retoma-se então o espírito pré-socrático de pensar o ser humano em conjunto com o Universo, e esta orientação acaba por fundir ciência, filosofia e religião no pensamento de Giordano Bruno. Nicolau de Cusa tinha, ainda em finais da Idade Média, dado o passo para suprimir os limites traçados ao Universo, ao considerá-lo como uma esfera cujo centro e superfície estão em todo o lado e em lado nenhum. Ao serem abolidas as fronteiras do Universo, abolem-se igualmente as da mente e do pensamento. Bruno considera que não há um mundo único, mas inumeráveis mundos. Os recursos para exprimir esse pensamento do infinito ultrapassam os da racionalidade e dos argumentos, requerendo uma poética cosmológica e uma religiosidade que não ocorre na ciência. É preciso também anular os limites da linguagem argumentativa ou de uma inteligência racional, para encontrar uma inteligência do amor ou da luz difundida por Deus no ser humano e no Universo infinito.
Esta ilimitação bruniana do Universo afirma-se igualmente no ser humano apresentado no Discurso sobre a Dignidade Humana, de Pico della Mirandola. Nesse discurso, que antecipa o da dignidade da pessoa humana que os modernos direitos humanos consagram, a ideia de uma natureza humana dada como imutável, permanente e limitada, é afastada: A tese de Pico é notável: (…) o homem não tem uma natureza que o constrange, uma essência que o condiciona. (…) O homem preenche uma única condição: a ausência de condições, a liberdade. (Eugenio Garin) Ao quebrarem os limites do ser humano e do Universo, Pico e Bruno abriam as portas a uma nova erae faziam recuar as fronteiras do possível.
Uma ilustração da dupla face do Renascimento referida no início deste texto revela-se na oposição entre as figuras de Thomas More e Maquiavel. Ambos se inserem no ambiente humanista, pelas referências aos autores do mundo antigo que pontuam a sua escrita, mas com um espírito diverso.O primeiro retomou o modelo de Platão para pensar a política como ideal, inspirando-se na República. Juiz de profissão, More prosseguiu o ideal da política como modo de realização da justiça., tanto no ofício como na escrita. A sua obra mais conhecida, a Utopia, originou um género filosófico e literário, ao pensar uma sociedade sem lugar nem tempo determinado (u-topos), onde se vivia em comunidade e se trabalhava para o bem comum. Tudo isto é escrito numa narrativa que conta a descoberta de uma ilha imaginária e desconhecida onde tudo era posto em comum e se praticava a tolerância religiosa – ao contrário do que acontecia no seu tempo, atravessado por guerras religiosas e pela pobreza.
Para Maquiavel a política não se guia pelo dever-ser ou ideal filosófico, ético e religioso, mas pelo ser, pelos factos: não visava o mundo tal como deveria ser, mas tal como é. Não se pode dizer que ele não tivesse ideais, porque lutava por uma unificação da Itália, então dividida em Cidades-Estados que se guerreavam. Mas o seu Príncipe desligava a política de qualquer princípio ético ou religioso, tornando-a numa técnica para obter e manter o poder. A herança do seu pensamento é contrastante: é considerado como o fundador da ciência política, enquanto a separação entre política e ética entregou-a à hybris, à paixão desmesurada pelo poder e às “razões de Estado” a tornarem-se superiores aos direitos da pessoa humana, como viria a acontecer no Leviatã de Thomas Hobbes.
O legado do Renascimento, nas ciências, artes e filosofia, é o do reconhecimento do ser humano na sua dignidade, liberdade e criatividade.
Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1223 de 07 de Maio de 2025.
 homepage
homepage