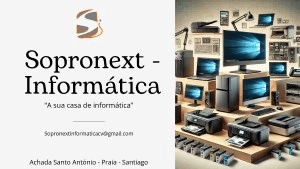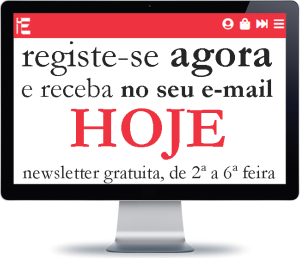Para falar da CRCV de 1992, por onde começamos? Pelo 19 de Fevereiro de 1990 (queda do artigo 4.º)? Pelo 14 de Março de 1990 (Declaração política do MpD)? Pelo 13 de Janeiro de 1991 (eleições multipartidárias)? Ou pelo 25 de Setembro de 1992 (aprovação da CRCV)?
Diria pelo 19 de Fevereiro, mas até se poderia começar antes. Naquela altura, estávamos a viver um período em que os regimes de partido único estavam a desabar um pouco por todo o lado. Na Europa de Leste, já se tinham registado vários acontecimentos nesse sentido desde 1989. Em 1990, já tinha passado o “vento de mudança” protagonizado por Gorbatchev, o que era essencial para a mudança do paradigma do regime cabo-verdiano. Também é preciso perceber, e às vezes as pessoas acham que sou demasiado “contemporizador” - e sei que vou ser criticado por o dizer - que não era, de todo, expectável que a independência protagonizada na conjuntura da luta de libertação nacional, da luta armada, com o PAIGC e outros movimentos de libertação nacional do continente africano, se pudesse traduzir imediatamente na implantação do Regime Pluralista Democrático. Nesse contexto, não foi surpreendente o modelo do regime do Partido Único. Basta analisar um pouco a História para, com realismo, o admitirmos. Sobretudo quando se vem de uma luta de libertação: estávamos perante um partido com uma profunda cultura militar e autoritária, e seria quase um gesto de sacrifício abrir mão do poder e tornar tudo imediatamente livre e democrático, permitindo que se escolhesse livremente. Seria, digamos, uma ingenuidade, uma generosidade sobre-humana. E já tínhamos exemplos, sobretudo com Nkrumah, que protagonizou o regime de Partido Único como se fosse a coisa mais bonita do mundo, para fazer contraposição à democracia ocidental, com os seus valores burgueses que não eram adaptáveis ao continente africano. Isso fazia escola como movimento revolucionário da época e é curioso como coisas que num dado momento são vistas como revolucionárias podem, anos depois, tornar-se reaccionárias e intoleráveis. Na altura, eram movimentos glorificados. Mas já se percebia o que viria além. Por isso começo por aqui. Logo após a abertura política oficial, em Fevereiro de 1990, aproveitámos a ocasião para organizar ideias sobre uma estrutura de regime político diferente. Já tínhamos discutido ideias com amigos, em grupos mais ou menos organizados, e mesmo que ainda fossem ideias soltas, os eixos principais já tinham sido desenhados. Não foi preciso tanto trabalho de pesquisa porque já sabíamos quais seriam.
Foi o factor decisivo?
A queda do art. 4.º foi um facto acelerador para constituirmos a Declaração. A questão do PAICV ser a força dirigente do Estado e da sociedade era uma coisa absolutamente intolerável no quadro que queríamos. Era a questão fundamental. Acabou por gerar-se um movimento de contestação porque, quando se anunciou a abertura política, não havia vontade política, mas sobretudo não havia clareza em relação aos conteúdos essenciais do novo regime. Aliás, anunciou-se, um pouco timidamente, que se podia admitir, além do PAICV, grupos de cidadãos, não partidos políticos. Quando ouço coisas como “o anúncio da democracia”, não foi assim. Foi uma conquista, uma pressão social muito forte. Nunca havia imaginado que houvesse tanta revolta e sede de liberdade. Lembro-me da nossa primeira manifestação: estávamos com algum receio, não sabíamos como ia funcionar. Eu trabalhava no escritório com o Dr. Carlos Veiga, na Avenida Sá da Bandeira, agora Avenida Amílcar Cabral. Estava lá e depois iria ter à Fazenda, onde íamos ter o comício. Espreitei através da persiana, aquele movimento. De facto, foi uma coisa impressionante. Eu vi gente a passar, e continuava a passar. Abri a janela: eram milhares. Ali conseguimos perceber melhor a extensão e a intensidade do desejo de então. E fomos tecendo os alicerces da CRCV.
Mas antes veio a Declaração Política do MpD. Que marca teve esse documento na CRCV?
A Declaração Política é uma espécie de manifesto constitucional. Falava sobretudo do sistema político, do regime e dos direitos, liberdades e garantias. Claro que também incluía questões como o calendário eleitoral, mas a ideia era mais ou menos isto: um manifesto constitucional, aquilo que deveria ser o regime que almejávamos. Quem lê a nossa Declaração Política, que foi escrita numa casinha em Achada Santo António, perto da zona do Brasil, percebe que estavam lá todos os traços essenciais da nova Constituição.
E com isso forçaram a abertura, não a grupos de cidadãos, mas a partidos?
Exacto. Isso passou também por um processo negocial, mas a nossa principal força era o movimento das ruas. Só essa linguagem era entendida pelo poder na altura, porque viam-nos apenas como um grupo de jovens intelectuais, que até dava um certo ar de graça, um ar democrático ao regime. Achavam que, no máximo, poderíamos eleger um ou dois deputados, talvez cinco ou dez, mas não acreditavam que chegássemos tão longe.
Foram um bocado condescendentes?
Pois, dava esse ar colorido ao regime. Via-se também na simpatia e cordialidade do Corsino Tolentino [que liderou a delegação do PAICV para as negociações], que sempre foi um homem cordial e muito simpático, mas percebia-se, na delegação e no tom geral das comunicações, uma certa superioridade, uma sobranceria: para eles éramos apenas um grupo de jovens quadros. Chamavam até de “revolta dos quadros”, ou “manifesto dos quadros”. Depois chamaram de “manifesto dos 600”, porque juntámos cerca de 600 assinaturas para aprovar a Declaração. Para eles éramos mais uns jovens técnicos e não mais do que isso.
E qual o papel do presidente Aristides Pereira em todo este processo?
Aristides Pereira gozava de uma posição que influenciou também o calendário político, anunciado unilateralmente pelo PAICV, de fazer primeiro as eleições presidenciais para só depois fazer as eleições legislativas. Acreditava-se que era a personalidade mais popular do regime. Pedro Pires era a figura mais marcante, mas o facto de estar com a mão na massa, de dirigir o governo para o bem e para o mal, naturalmente também gerava antipatias, tanto dentro da estrutura do PAICV como na sociedade. Aristides Pereira era a figura mais popular e, embora não completamente, mais aglutinadora. Ou seja, o efeito da vitória arrasadora de Aristides Pereira sobre os ilustres desconhecidos de então arrastaria os resultados das eleições legislativas, quase como um efeito “à boleia”. Nós lutamos contra este calendário: nas ruas, com manifestações, e através de entrevistas. A primeira conferência de imprensa declarando oficialmente o nosso movimento foi dada por mim no hotel Praia Mar. Já aí deixei claro que o calendário era absolutamente inaceitável. Mais tarde, durante as negociações - eu chefiava a delegação do MpD - , uma das questões fundamentais a discutir era exactamente o calendário. Defendíamos que primeiro se realizassem as eleições legislativas por uma razão lógica: o que estava em causa era o regime, e este é definido pela Assembleia Nacional. Era preciso definir primeiro o regime.
E como é que conseguiram convencer o PAICV a realizar primeiro as legislativas?
Foi, como disse, a capacidade mobilizadora que tivemos na rua. Convocávamos uma manifestação e facilmente reuníamos 10, 15, 20 mil pessoas. Por todas as ilhas, mandávamos na rua, éramos recebidos com aclamações e apoio massivo. Portanto, tínhamos de dominar o calendário e, embora por vezes cedêssemos, porque tínhamos pressa de que isso fosse resolvido, conseguimos. Negociámos todo o calendário [eleitoral] e alguns conteúdos específicos. Nós éramos adeptos do que chamávamos de “revisão mínima”: a Assembleia do Partido Único só podia fazer uma revisão constitucional mínima. Era inaceitável, mesmo do ponto de vista ético, aproveitar uma Assembleia de Partido Único para definir o novo regime, como pretendiam. A única coisa que essa Assembleia deveria fazer era alterar a Constituição para permitir eleições livres. Mesmo assim, a revisão acabou por ir mais longe, mas não tanto quanto eles queriam. Para nós, o fundamental era apenas isso: não mexer em demasia, criar condições para a eleições e depois a Assembleia faria uma nova Constituição.
A 13 de Janeiro vencem as eleições. Os resultados surpreenderam?
Sem dúvida. Mesmo na noite das eleições, com a contagem dos votos, mesmo quando soubemos que íamos ganhar, nunca pensámos que a vitória seria tão esmagadora. Foi simplesmente arrasadora.
Estava aberto o caminho para a CRCV de 1992. Do seu ponto de vista, como Supervisor do projecto, é uma nova Constituição ou uma revisão?
Fizemos uma nova Constituição seguindo o processo de revisão. Poderíamos ter assumido os novos poderes constituintes, rasgado as regras da Constituição e feito uma nova, mas também tínhamos deputados [suficientes] para seguir a regra da revisão constitucional. Aliás, quando pensávamos que poderíamos não ganhar as eleições, queríamos ter, pelo menos, mais de um terço dos deputados para poder condicionar qualquer revisão constitucional. Acho que, do ponto de vista histórico é de realçar que éramos muitos jovens. Poucos tinham mais de 40 anos. E qual era a preocupação fundamental? Éramos um país muito pobre, dependente da cooperação internacional, com recursos escassos, e não queríamos entrar na aventura de ter aqui uma espécie de facho revolucionário. Desde o início, queríamos passar a ideia de continuidade, estabilidade e previsibilidade, mostrando que éramos gente séria e responsável. Por exemplo, na área da cooperação internacional, fomos buscar alguém que estava no sistema, embora não propiamente um militante, mas um antigo dirigente: o José Luís Monteiro. Ele era director-geral da cooperação, percebia da matéria e nomeámo-lo secretário de Estado da Cooperação Internacional. Queríamos enviar um sinal aos parceiros de que o que se estava a fazer não era nenhuma “bagunça”.
Era uma evolução, não uma revolução.
Certo. Por isso, também na Constituição quisemos seguir este processo. Então, do ponto de vista formal, é uma revisão. Mas, repare-se que tínhamos uma Constituição com 80 artigos e passámos para uma com cerca de 300. Difícil seria dizer [que é apenas uma revisão].
Por isso não houve uma Assembleia Constituinte?
Exactamente. Nós não assumimos formalmente o poder Constituinte. Aproveitámos as regras da própria revisão, mas falamos, com toda a razão, da Segunda República porque houve efectivamente, do ponto de vista substancial, uma nova CRCV, um novo regime. Uma curiosidade é que hoje, segundo as regras parlamentares, as revisões da Constituição só podem ser apresentadas pelos deputados. Na altura, porém, de acordo com as regras da Constituição [anterior] o governo podia apresentar a proposta de revisão constitucional no Parlamento. Fui eu [então ministro da Justiça] quem apresentou e defendeu a proposta na Assembleia.
Quando começaram o processo da “revisão” da CRCV, qual era o ambiente vivido?
Havia, claramente, uma grande ansiedade à volta da Constituição da República. Quando ganhámos as eleições, já todos exigiam uma nova. Tivemos apenas o cuidado de conceber um bom projecto, porque queríamos uma CRCV que não pudesse ser facilmente alterada no futuro. Queríamos criar um sistema que assegurasse, pelo menos, certos princípios fundamentais e havia uma preocupação essencial, baseada na história e experiência do nosso continente, já expressa desde a declaração política: dar a maior estabilidade política possível. É um instrumento em que sempre privilegiámos a colegialidade e o equilíbrio dos poderes, em vez de concentrar o poder num só homem. Por isso, a Assembleia, como sede da colegialidade, é o centro do sistema político, e ninguém teria o poder de a dissolver livremente.
Não queriam um regime de homem forte.
Exactamente. E é por isso, no princípio, até condicionamos mais os poderes do Presidente da República do que agora, depois da revisão de 2010.
O presidente Mascarenhas Monteiro “queixava-se” de ter sido eleito com poderes que depois não tinha?
Sim, e eu percebo. Mas ele também sabia que isto estava na nossa declaração política e no programa eleitoral. Estava previsto um semipresidencialismo fraco, ou, como se chama mais correntemente, um parlamentarismo mitigado. Naquela ocasião, as cautelas e os condicionamentos aplicados ao PR reflectiam a experiência de que, muito rapidamente, um único homem podia assumir o poder absoluto. Um dia, acordava de mau humor e resolvia fazer novas eleições ou demitir o Primeiro-ministro. Então, o PR não tinha o poder de demitir o primeiro-ministro nem dissolver o Parlamento. O governo, porém, dependia do PR, para funcionar. Ou seja, criámos um equilíbrio que no contexto se justificava e funcionou perfeitamente até esta data.
Durante a elaboração da Constituição, quais são as memórias mais marcantes?
Criámos uma comissão de revisão, a que eu presidia. Contámos com a colaboração do professor Wladimir Brito, da Universidade do Minho, [que escreveu o texto constitucional e] com quem discutimos muitas ideias. Fizemos debates na direcção do partido e no grupo parlamentar, nas quais ele participou muitas vezes, socializando as propostas. Nós, naturalmente, também avançamos com ideias que queríamos ver expressas no ante-projecto de revisão constitucional.
Quem participava na comissão e debates?
Era muita gente. Na equipa estava, por exemplo, Jorge Carlos Fonseca, na altura ministro dos Negócios Estrangeiros, e que poderia até ter presidido à comissão, pela experiência em direito constitucional, mas a ocupação era intensa no seu ministério. O primeiro-ministro Carlos Veiga participava nos debates, naturalmente. Entre outros, Arnaldo Silva, Alfredo Teixeira, mas não só juristas, também outros com apetência para questões de natureza político-constitucional, como os engenheiros António Espírito Santo e António Santos. Havia ainda António Pascoal, José Tomás Veiga, e outros que agora posso estar a esquecer.
O que a equipa pretendia? Quais foram as linhas gerais do “briefing” (além do novo sistema político, de que falou)?
Queríamos uma Constituição densa, que não deixasse espaço para grandes manobras, e que fizesse uma elencagem de direitos de uma forma muito clara. Também insistimos na questão dos deveres, e penso que a CRCV é das primeiras Constituições em que aparece de forma concentrada, em vez de dispersa, quais são os direitos do cidadão e quais são os seus deveres. Temos um capítulo sobre direitos, mas também um capítulo sobre deveres. Porque, às vezes, tem-se apenas uma “carta de direitos”, mas a contrapartida dos deveres, essa colaboração, é também importante. Depois, havia outros desafios a resolver, e aí também fomos inovadores. Somos uma nação diaspórica e nós, ainda antes, por exemplo, de Portugal, aprovámos a norma que permitia aos emigrantes votar nas eleições presidenciais. Em Portugal, nessa altura, os emigrantes apenas votavam nas legislativas. Avançámos também permitindo que estrangeiros votassem nas eleições autárquicas. Tudo isso é uma homenagem à nossa emigração e um incentivo para que outros países fizessem a mesma coisa: que os cabo-verdianos na emigração pudessem votar. Portanto, isto é nossa criação, não é copy-paste de nenhum lado. No Poder Judicial, criámos um poder de tal forma independente que, mesmo antes da revisão de 2010, já se apontava o caminho para o autogoverno das magistraturas. Nessa lógica, dar todos os poderes ao Conselho Superior da Administração Judicial e ao Conselho Superior do Ministério Público, contrariando quase a 100% o modelo anterior, para que pudessem governar-se.
O que se costuma referir sempre é que é uma Constituição da dignidade humana. Quais são os grandes valores que se queriam consagrar?
A ideia presente na CRCV é, de facto, construir um Estado de direito liberal, o mais liberal possível em termos políticos. No texto, tínhamos uma coisa que contrapunha em absoluto o sistema anterior: submetemos tudo à dignidade da pessoa humana, colocando-a como um valor absoluto superior ao do próprio Estado. Tudo se fundou nessa ideia. Isso teve consequências, por exemplo no regime da prisão preventiva e nas buscas domiciliárias. Ao longo do tempo, fomos vendo que, em certos aspectos, talvez tenhamos ido longe demais, mas a ideia era contrapor. Queríamos impedir os abusos do regime do partido único, em que alguém podia estar seis meses preso sem ser ouvido ou podiam entrar em casas sem culpa formada. Por isso, amarrámos esses direitos, cada detalhe, no texto constitucional: isto não é lei que pode ser mudada. O ambiente era, portanto, de defesa máxima do direito constitucional e liberal. Mas, sempre tivemos presente também a componente da justiça social, porque este é um Estado pobre.
Quais foram as preocupações ao definir esses direitos sociais?
Quando falam no “partido liberal”, sim, é um partido liberal em matéria de direito. Mas, como disse, houve sempre uma preocupação com a componente social, que é muito forte no projecto de revisão constitucional que apresentamos. Tratámos, ali, da saúde, educação, justiça, emprego e habitação… Agora, assumidamente, a matriz é o máximo de liberdade, direitos e garantias, no quadro que definimos e que foi muito socializado.
Esses direitos sociais são apresentados de forma cautelosa, progressiva, tendo em conta as condições do país. Foi uma forma de salvaguardar as “promessas” do Estado?
Sim, porque é matéria programática. Em matéria dos direitos, uma coisa é a proclamação da vontade política do Estado; outra é a efectivação prática desses direitos. No direito ao trabalho, à saúde, à habitação, há constrangimentos: para que esses direitos sejam realmente garantidos, é preciso que existam condições económicas e financeiras no país. Portanto, isto constitui, em certo sentido, metas e obrigações do Estado, que deve criar as condições para os tornar realidade. Esse cuidado [no texto] era importante, até para evitar críticas do género: “é só no papel, dizem mas não cumprem.” Portanto, tivemos sempre o cuidado de explicitar e não enganar as pessoas. Por exemplo, no direito à habitação, nem países desenvolvidos conseguem garanti-lo a todos, quanto mais um país como Cabo Verde. Mas é um direito e é um dever do Estado criar as condições para que se materialize. Mas também direitos, liberdades e garantias individuais e estes não dependem das condições, apenas da vontade política do Estado em os fazer cumprir.
Falou há pouco que tiveram em atenção que somos uma nação diaspórica, mas também somos uma nação arquipelágica. Que atenção mereceu este facto quando elaboraram o projecto?
Tivemos essa preocupação. Havia gente que defendia a existência de uma espécie de Câmara regional, com assento constitucional para representar as ilhas e debater matérias de impacto local. Falamos, na ocasião, dos conselhos regionais. A preocupação era garantir equidade na distribuição de recursos e autonomia às ilhas mais distantes, permitindo-lhes participar activamente no próprio desenvolvimento e que não fossem apenas destinatários das políticas do Governo Central. Havia opiniões várias, mas, confesso, não conseguimos construir algo suficientemente sólido. Porque também havia uma outra corrente, com uma preocupação legítima e que até hoje vigora: sendo um país pequeno e arquipelágico há já uma tendência divisionista e, portanto, dever-se-ia priorizar a construção da unidade nacional. Sobretudo naquela ocasião de muita disputa política partidária, tinha-se também receio que isto pudesse levar ao afastamento das ilhas umas das outras, o que poderia comprometer, de alguma forma, a própria unidade nacional. Foi por isso que não conseguimos arranjar uma solução mais sólida.
Então, é ainda um processo em aberto?
Sim. Aliás, vê-se que a sociedade continua dividida. Quando se apresentou o projeto de regionalização, viu-se que as posições estavam muito extremadas, cada uma com os seus fundamentos e receios, naturais. Mas, para mim, o mais importante, e que sempre defendi, foi a ocupação do território pelo Estado. Ou seja, a representação do Estado em cada ilha, como sinal de que somos um país arquipelágico, mais do que propriamente a atribuição de poderes autonómicos mais fortes e consistentes. Sendo nós um país arquipelágico, a distribuição dos poderes e da representação do Estado devia reflectir essa realidade. Já houve alguns sinais, como a descentralização dos ministérios, mas ainda são curtos. Deviam ser mais fortes, mais extensos, na minha opinião.
Mas isso não seria uma sobrecarga financeira para o Estado?Mas e os ganhos globais? É, sobretudo, uma questão de princípio, mais do que de economia. Ou seja, o Estado, tendencialmente, deve estar organizado abrangendo todas as ilhas de Cabo Verde, não deixando isso apenas para a representação municipal. O poder deve reflectir a natureza arquipelágica do país. Sei que é complicado. Já houve alguns passos: criar um ministério em São Vicente, outro no Sal, instalar um instituto noutra ilha... são sinais. Mas acredito que, no futuro, teremos condições para fazer mais.
Voltando a 1992, a CRCV foi uma Constituição do MpD. Já explicou por que não houve uma Assembleia Constituinte, mas num projecto desta envergadura não devia haver mais diálogo e consenso?
Procuramos este diálogo, mas o contexto dificultou-o. O PAICV tinha apresentado um projecto de revisão há pouco mais de um ano, em 1990, mas foi um pouco mais longe. O PAICV quis um modelo de regime na perspectiva de que Aristides Pereira seria eleito e nós, “esses jovens”, em pouco mais de um ano dávamos cabo do país, e ele dissolvia [o parlamento] e convocava novas eleições. Depois, o PAICV viria a apresentar um novo projecto de revisão que depois acabou por retirar do Parlamento. Mas as diferenças para o modelo que nós tínhamos eram muito grandes. E havia ainda, por parte do PAICV, um certo ressabiamento porque ninguém imaginava a dimensão da derrota [nas legislativas]. Portanto, o ambiente, mesmo do ponto de vista psicológico, não era o mais propício. Mas houve encontros entre deputados, entre grupos parlamentares, entre os dois partidos. Aliás, é de notar que o PAICV não votou contra a Constituição.
Chegamos assim a 25 de Setembro de 1992, data da aprovação da CRCV na Assembleia Nacional. Os deputados do PAICV saíram da sala…
Uma boa parte saiu da sala, outros ficaram e abstiveram-se. Da minha memória, é isto. O certo é que não votaram a favor da Constituição, mas não houve nenhum voto contra. Aliás, a narrativa histórica do PAICV é de que se absteve e de que o fez por razões procedimentais. Alegam que houve falhas do procedimento e, sobretudo, que não se encetou um processo de negociação que mostrasse uma vontade de incorporar as propostas que apresentaram. E muitas vezes, até na narrativa que se faz na aprovação da CRCV, é que esta era
demasiado penalizadora. Eu elaborei o preâmbulo da CRCV sozinho e tive o cuidado de não colocar uma única palavra que pudesse ofender o PAICV. Na época, seria normal haver críticas, “malhar” no partido, mas não há nenhuma palavra, pois foi elaborado visando também poder agregar o PAICV, mostrar boa vontade. Como dizia aos meus colegas: isto é para o futuro, não podemos fazer um preâmbulo que na primeira derrota eleitoral seja alterado ou em que um partido da oposição não se revê. Não podemos ter este manifesto de ataque permanente, num texto constitucional que é uma lei para durar. É por isso que nunca houve nenhuma tentativa de mudar o preâmbulo. Já se fizeram revisões constitucionais e este nunca foi alterado, sobretudo porque se evitaram juízos de valor sobre o Partido Único. A ideia foi dizer: esta é uma constituição para todos.
Houve já três revisões à CRCV de 1992. Duas em governo do MpD (1995 e 1999) e a última (2010), já num governo do PAICV. Há quem diga é que a partir daí que a CRCV se cimentou e passou a ser aceite por todos. Terá a ver com o facto de ter sido num governo do PAICV?
Acho que o tempo também ajudou. E acho que foi bom termos a revisão de 2010 porque foi conciliadora. Nessa ocasião, quem quisesse apresentar alterações à Constituição podia fazê-lo e houve propostas tanto do PAICV como do MpD. O PAICV tinha maioria no parlamento, o que significa, depois disso, uma adesão plena à Constituição. Apesar de ter havido algumas alterações com algum significado, foram poucas e nenhuma radical ao ponto de mudar a substância da versão anterior. Por isso, considero a revisão de 2010 importante. Além disso, a revisão quis também resolver questões relevantes, como a do Tribunal Constitucional, que ganhou uma nova dimensão, reflectida depois também no Código Eleitoral. Em 2010, foram, aliás, feitas várias reformas importantes: a revisão constitucional, a revisão do Código Eleitoral e a reforma do sistema de justiça. Deu-se mais um passo com a separação do Conselho Superior de Justiça da presidência do Supremo Tribunal de Justiça. Isso conferiu mais autonomia e independência na gestão, e não misturar a função de julgar com a função de gerir. Também se retiraram alguns condicionamentos ao Presidente da República. Pode-se dizer que entramos num semipresidencialismo. Não é um semipresidencialismo à francesa, não é forte, mas ainda assim é semipresidencialismo. Hoje, se alguém disser que é parlamentarismo, eu diria que é um parlamentarismo muito menos mitigado do que era antes. Nós tinham alguns condicionismos que foram postos pelo receio justificado pela história do constitucionalismo no continente africano. Era importante, até que houvesse a estabilização. Nós saímos de uma Constituição de 80 artigos do Partido Único, que era uma Constituição de 300 artigos, que era experimental. Então, estas revisões, que são pontuais, serviram, em primeiro lugar para afirmar a estabilidade do sistema. E, em segundo lugar, afirmaram a consensualidade da própria Constituição. Acho que isto é importante.
Já passaram 15 anos desde a última revisão constitucional. Justifica-se uma nova?
Já me foram apontadas algumas situações que pedem revisão, para clarificação. Concordo, por exemplo, que não faz sentido manter este regime em que o Presidente da República sai, por exemplo, para Portugal e, de imediato, temos outro Presidente da República [o Presidente da Assembleia Nacional]. Isso, no tempo das Caravelas ainda se justificava, hoje não.
Mas há isso em todos os países.
Nem todos. Muitos já retiraram, sobretudo nas viagens de curto prazo. Se o Presidente entra de férias, podemos perceber. Está doente, percebe-se. Agora, o Presidente vai à Alemanha e, de repente, temos um Presidente interino? É como se lá deixasse de ser Presidente, como se a presença física fosse indispensável. Hoje já não faz sentido.Além disso, na prática, fica tudo dependente da honestidade da pessoa. Porque, mesmo com poderes limitados, não são assim tão limitados. Imagine alguém aproveitar a ausência do Presidente para despachar um conjunto de coisas à pressa… nunca aconteceu, mas podia. Então, isso foi pensado noutros tempos. Hoje não se justifica. Entretanto, há quem queira ir mais longe, mexendo em coisas “de fundo”. Por exemplo, no processo eleitoral, há quem proponha listas uninominais. Eu tenho dúvidas, muito dúvidas quanto a isso. Há gente que está a propor a redução do número de deputados. Também tenho dúvidas. Actualmente, temos 72 deputados, o que teoricamente é muita gente, mas há nove ilhas que precisam de estar representadas. E como é que se vai fazer isso? Esse é que é o problema. Por exemplo, nenhum ciclo eleitoral pode ter menos de dois deputados por ilha, o que garante a democracia pois não se pode deixar 49% da população de uma ilha sem representação. O Maio e outras ilhas têm de ter dois e tem sido sempre um do PAICV e outro do MpD. Com a listas uninominais, 49% das pessoas, ou parte delas, não tem representação. Reduzir o número de deputados implica pensar cuidadosamente em como preservar a proporcionalidade da representação. Já temos esse problema. Às vez é preciso dois ou três mil votos para eleger um deputado num local, e noutro apenas 500. Como fica este valor democrático? As pessoas avançam com argumentos de natureza financeira, mas é preciso não esquecer os valores democráticos que estão subjacentes. Tem a ver com o conteúdo da própria democracia. Mas, uma coisa é certa: é discutível. Pode-se apresentar projectos de revisão e discutir. E será bom fazer um debate também sobre esses temas para se poder também compreender melhor a razão das coisas.
Sobre a questão da democracia. Sabemos que a democracia está em crise em todo o mundo. Vê sinais de alerta aqui em Cabo Verde? Já vemos a queda de confiança nas instituições, por exemplo…
Para mim, ainda vale sempre a pena repetir Churchill: “A democracia é o pior de sistemas, com excepção de todos os outros. "Há gente que fala dos males da sociedade e quer-nos convencer que todos esses males devem ser imputados ao sistema. E, curiosamente, muita gente que os imputa ao sistema elogia países como Burkina Faso, Mali ou Guiné-Conacri. Isso causa-me perplexidade. Ou seja, é gente que acha que o mal é este sistema e quer substitui-lo pela autocracia. Posso juntar-me a quem critica, dizendo: “isto não está bem, não pode ser assim”. Tudo certo. Mas a questão é: o que se propõe em alternativa? Muitas propostas apontam para soluções piores, que já estiveram a funcionar no passado e foram mudadas exactamente porque não servem para Cabo Verde. Além disso, há dois factores que prejudicam. Há uma escrutínio muito maior e as instituições, nesse aspecto, são mais vulneráveis. E as redes sociais mudaram tudo e, aí, o que é negativo espalha-se rapidamente. Hoje temos uma exposição muito maior. Isso significa que os erros, as ilegalidades e o que não funciona são destacados muito mais do que os actos correctos. Por outro lado, tal como um pouco por todo o mundo, temos vemos também aqui vemos correntes populistas a ganhar força, correntes anti-sistema que criticam o sistema. Fala-se muito do “sistema” e não sabemos o que o é isso e nem qual é o sistema que querem implementar. Fala-se também das sondagens, que dizem “isto” e “aquilo”, mas a verdade é que em Cabo Verde, se analisámos o nível da abstenção, estamos numa posição bastante razoável. Nas eleições legislativas, a abstenção nunca ultrapassou os 30%. Isso mostra que ainda há uma participação política considerável. Às vezes, o problema tem a ver com o exercício do poder. Nos municípios, por exemplo, o poder é mais próximo da população e, por isso, saem-se melhor. O poder central tem um maior distanciamento. Até a expressão “Palácio” do Governo, do Presidente,... Faz com que instituições como o Parlamento pareçam mais distantes, e sejam pior cotadas. Em países pequenos como Cabo Verde, acho que é possível ter um exercício do poder mais próximo da população.
Mas essas vozes anti-sistema estão a intensificar-se em Cabo Verde?
Sim, eu acho que sim. Até porque as pessoas se aproveitam também das situações de vulnerabilidade das população. Exploram as dificuldades que podemos ainda ter no domínio da saúde, dos transporte, da justiça, de salários, e provocam a revolta, a raiva. Ao fazê-lo, estão implicitamente a dizer que resolvem isto. E, claramente, ouço pessoas que estiveram no poder 30 anos (15 em democracia e 15 antes) e não resolveram esses problemas. Costumo perguntar: “Que problema temos hoje e que não tínhamos? Diga um problema que começou com este governo”. Porque no máximo pode-se dizer é que ainda não se conseguiu resolvê-lo. E se você deixa uma lista extensa de problemas… Esse discurso populista não assenta em propostas. Assenta apenas na denúncia, na acusação.
CRCV resistirá a um ditador ou populista que chegue ao poder. Conseguirá garantir a Democracia?
A Constituição funciona na democracia porque, nas ditaduras, a primeira coisa que se faz é suspendê-la. Agora, quando isso é feito de forma aberta, clara, a resistência é mais fácil; o perigo é maior quando parece que o sistema funciona normalmente, mas, na realidade, existe um sistema paralelo que consegue condicionar o sistema formal, o sistema político, o sistema judiciário, a liberdade de imprensa, tudo. Estamos a ver isso em alguns países. E o poder é sempre o poder. Quando se têm os instrumentos de poder, pode-se condicionar o exercício de outros órgãos, às vezes de forma subterrânea, mas eficaz. A defesa da democraciadepende de muita coisa. Depende do governo, das instituições e das pessoas e o perigo maior surge de indivíduos que propagam mensagens de revolta e denúncia, sem apresentar soluções ou programas. Ficamos ainda mais preocupados quando esse discurso é também acompanhado de alguns exemplos saudosistas de coisas que deixamos no passado e em relação às quais queremos manter o devido distanciamento. Em Cabo Verde, já começámos, claramente, a viver um período em que o discurso populista está a ser implantado, e a tarefa essencial é proteger o regime democrático. Não o podemos fazer de outra maneira que não seja através do discurso político.Mas tudo o que está ancorado na Constituição e deve ser preservado é responsabilidade de todos: não apenas dos tribunais, da polícia ou do exército, mas de todas as instituições democráticas e, sobretudo, dos cidadãos, que devem velar pela defesa da Constituição.
Versão alargada do texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1243 de 24 de Setembro de 2025.
 homepage
homepage