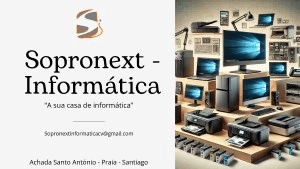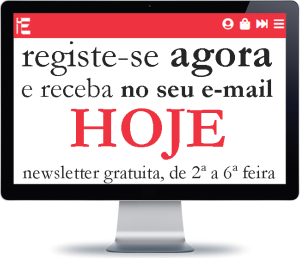Outra evidência está na transição da questão da regulação da intimidade, que emigra da esfera privada para a esfera pública, à medida que passou a ser concebida como uma situação de exercício de poder, como atestam, por exemplo, os trabalhos das antropólogas Carmelita Silva e Celeste Furtado e da socióloga Eurídice Monteiro.
Considerando essas reformulações da situação do masculino nos padrões historicamente construídos de relações entre homens e mulheres e das definições de feminilidade e de masculinidade em Cabo Verde, entendemos que a obra Chiquinho hoje pode ser revisitada em busca dos homens que retrata, não somente como projeções do estado de abandono do seu povo e da indiferença política da metrópole, mas como vidas concretas ficcionadas e tensionadas entre os valores culturais e as estruturas sociais.
Pensando assim, no artigo intitulado As nuances socioestruturais da crise da masculinidade cabo-verdiana em Chiquinho de Baltasar Lopes, recentemente publicado, analisamos este clássico cabo-verdiano para refletir criticamente sobre as várias dimensões do papel masculino no arquipélago e as suas crises identitárias.
Repare-se que não perdemos de vista o contexto sociopolítico em que apareceu esta obra e que, mesmo cientes do lugar de Chiquinho, de Baltasar Lopes, nos embates (intelectuais e políticos) identitários cabo-verdianos, tomamos esta obra como uma ilustração do processo de construção de sujeitos masculinos, portadores de uma psicologia moldada pelos ambientes sociais que circundaram a sua jornada infantil e juvenil e pelas interações, também coercivas, que os ajudaram a construir a sua relação com a realidade.
Em termos metodológicos, encontramos em Chiquinho um porto de escala para uma «etnografia literária», apoiada nos contributos oferecidos pela literatura histórica, antropológica e sociológica sobre Cabo Verde, tanto que, no desenvolvimento deste artigo, discorremos sobre alguns aportes sociológicos na conceptualização da problemática da masculinidade e na forma como as bases estruturais da anomia masculina configuram as possibilidades da performatividade dos papéis sociais masculinos no início do processo de povoamento e formação da sociedade em Cabo Verde.
Assim, pudemos constatar que, em Chiquinho, são representantes socialmente positivados da masculinidade os homens que assumiram os encargos que se lhes impunham até ao limite do sacrifício pessoal. Recebia o reconhecimento simbólico de herói aquele que incorporasse a condição de conquistador e de provedor genético, material e emocional. Fossem eles moço de enxada, rapaz de baleia ou americano de verdade, impunha-se-lhes a aceitação da responsabilidade do trabalho, merecendo a distinção social os que passassem a ter a algibeira pesada de dólares.
Reparamos também que os personagens positivados, perante as negações locais das oportunidades efetivas para cumprir no arquipélago o seu papel em prol dos valores de serviço, do poder e da honra, encontraram alternativas fora do território das ilhas. Neste sentido, o avô do protagonista do romance é o retrato cabal da incorporação do ideário do provedor heroico e viril.
Na ótica da sua esposa, Dona Júlia, a Mamãe Velha, era um homem que merecia todo o respeito e que a orgulhava. Construiu a morada da família coberta de telha francesa e esboçada de cal por fora, com dinheiro ganho «de-riba da água do mar», o que conferia uma origem honrada a essa moradia. Mesmo quando questionada acerca das aventuras do marido pelos portos internacionais, Mamãe Velha é perentória em responder que não tinha ciúmes do falecido, dado que “Ele nunca me faltou com nada”.
Todavia, os personagens não positivados — aqueles que não puderam evadir-se, ou os retornados que não se adaptaram à vida fora do território nacional — ora sucumbiram aos comportamentos desviantes, ora não sobreviveram às limitações impostas, tornando-se párias, cadáveres sociais ou falecidos.
O refúgio nos comportamentos desviantes, nomeadamente o refúgio no hedonismo, está personificado no Tio Joca, que encontrou no grogue e nas conquistas sexuais as válvulas de escape para uma vida pessoal não realizada. Por sua vez, o carvoeiro João Col encarna a imagem da decadência moral de um homem e de um chefe de família. Enquanto provedor desempregado, por conta da falta de ofertas laborais em abundância e da concorrência de homens mais jovens e mais aptos para o trabalho, a subsistência da família ficou entregue à vadiagem dos filhos, à esmola dos pequenos, à prostituição da filha pré-adolescente e à esperança no além.
Entre estes dois tipos ideais extremos, aparece Chico Zepa, que evoca o masculino apegado aos prazeres que a virilidade lhe confere. Por detrás da sua aversão ao trabalho, conservou a dignidade da sua rebeldia, recusando-se a trilhar os caminhos da mendicância e pagando os custos da sua rebeldia com a deportação. Também temos, no personagem Parafuso, essa dignidade viril, tanto que, com fome nos olhos, recusava a merenda que os colegas de liceu lhe ofereciam. Essa dignidade, entretanto, não o livrou dos efeitos terminais de uma doença que nem ele nem a família tinham recursos para tratar.
Portanto, a maturidade e as circunstâncias de vida nas ilhas fizeram o jovem Chiquinho perceber que a distinção que a sua boa cabeça e o seu diploma lhe asseguravam poderia livrá-lo do destino do seu ídolo de infância Chico Zepa, do seu amigo Parafuso e da decrepitude moral de João Col. Mas não necessariamente do destino do seu tio Joca. Vendo-o caído bêbado, como um morto sobre a cama, com as ceroulas sujas de necessidades, recebendo café das mãos da sua mãe, questionou-se se teria o mesmo destino que o tio. Assim, o tio desperta nele a atenção pelo facto de que «o cuidado de si» é também uma responsabilidade masculina.
Tanto em São Nicolau como em São Vicente, Chiquinho percebe que a vivência masculina se espelhava em vidas atravessadas pelo imperativo cultural do sucesso (cultural, económico, sexual, simbólico) e pelas limitações sociais em alcançar esse sucesso, de modo que, se, culturalmente, todos os indivíduos do sexo masculino são instigados a atender às expectativas sociais e comportamentais associadas ao seu sexo, socialmente, nem todos detinham os recursos que lhes permitissem assumir e cumprir tal papel.
Propomos que, nessa dissonância entre o cultural e o social, reside o fundamento socioestrutural do que designamos por crise da masculinidade cabo-verdiana. É uma hipótese que, nos dias correntes, ela se manifeste na adoração da paródia, na paternidade irresponsável ou na violência baseada no género, em simultâneo com uma incessante busca pelo poder, pelo sucesso sexual e pela validação social.
Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1237 de 13 de Agosto de 2025.
 homepage
homepage