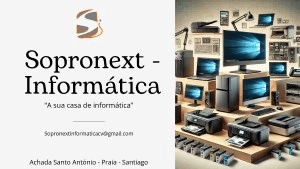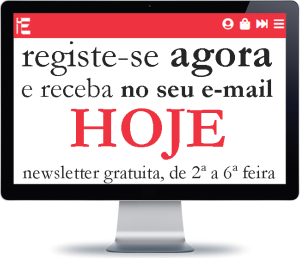Manuel Brito-Semedo (MBS) - Vamos trocar ideias, lançar provocações e espero inspirar novos olhares sobre como convivermos melhor na diversidade. Rui, hoje fala-se muito em guerras culturais, seja nos debates sobre estátuas, linguagem inclusiva ou manuais escolares. Mas, afinal, o que são exactamente estas guerras culturais? De onde vêm? E por que razão se tornaram tão presentes no debate público? E se olharmos para a história com alguma distância, dirias que estamos num momento novo ou apenas a repetir velhos padrões com novos actores?
Rui Tavares (RT) - Nós humanos vivemos na cultura, esse é o nosso elemento. Estamos na cultura como o peixe está na água e, portanto, é natural que as nossas guerras tenham sempre um ângulo, um prisma que é cultural. Quando falamos de guerras culturais, no entanto, falamos de coisas diferentes. Falamos de fenómenos que têm, em meu entender, para se poder mais ou menos conseguir definir o campo, três características principais. Uma é que são momentos de grande intensidade emocional, que se criam em torno de narrativas, valores e identidades e que criam uma grande polarização na sociedade. Esses fenómenos não nascem necessariamente de coisas que tenham uma enorme relevância do ponto de vista social ou económico. Para dar um exemplo de uma guerra cultural antiga, que tem consequências até aos dias de hoje, a questão que dividiu a Igreja Cristã Romana na Europa do século XVI, e que criou de um lado os protestantes e do outro os católicos, a questão das indulgências, ela é a mais importante pela própria guerra cultural que lhe dá sentido, ou seja, ela ganha relevância porque gera essa polarização e essa divisão do que necessariamente por ter uma enorme importância económica ou social naquele tempo. Mas nós sabemos que muitas vezes as guerras culturais são assim. Vemos gente hoje em dia a ter discussões mais intensas sobre realidades que às vezes não veem ou não conhecem. Podemos ter uma discussão intensa nas redes sociais a propósito da burca, mesmo nunca tendo visto nenhuma burca passar à nossa frente, do que por questões de custo de vida ou da renda das casas ou do que quer que seja que tenham um impacto económico sobre a nossa vida todos os dias. Isto não tem nada de estranho, mas foi tornado estranho pela leitura mais economicista que nos foi legada pelo século XIX, tanto na tradição marxista como na tradição liberal. Tradições supostamente racionalistas e económicas, que acreditam que as guerras de classes, por um lado, ou o interesse no mercado, por outro, é ditado por leis muito simples de oferta e de procura e que podem ser basicamente decifradas pelo interesse económico de que elas investem os seus participantes.
MBS - Proponho olharmos para uma outra lógica da construção identitária, que nos respeita, a crioulidade. Para mim, que cresci em Cabo Verde, a crioulidade foi sempre uma forma de síntese, da convivência, de negociação entre diferenças. Nascida da mestiçagem cultural, propõe uma identidade relacional que é aberta e plural. Rui, achas que esta ideia pode inspirar soluções num mundo marcado por radicalismo? E mais pessoalmente, houve algum momento concreto em que percebeste o valor da convivência na diversidade?
RT - Eu creio que Cabo Verde não só tem uma história que é muito própria, como tem uma história muito própria a contar ao mundo. Ou seja, não é só Cabo Verde ser especial. Isso em si, claro, seria sempre interessante. Mas é Cabo Verde ter um olhar diferente, que às vezes pode emprestar aos outros, e com esse olhar permitir-nos entender melhor o nosso mundo. Eu vim a Cabo Verde pela primeira vez faz agora 30 anos. Na altura, fiz grandes amigos em particular na Ilha do Fogo, que foi a que ficou mais próxima do meu coração. E eu passei a entender melhor Portugal por entender Cabo Verde. Não só nas coisas que são de património cultural comum, ou como diríamos, das malhas que a história tece, por haver uma história que é coincidente em largos troços, às vezes muito dolorosos, mas por outras razões também entender melhor a minha aldeia, entender melhor os meus avós dos quais eu só conheci uma avó, entender melhor os meus pais que eram muito mais velhos do que eu, porque o meu pai nasceu em 1929 a minha mãe em 31 eu sou de 72, então a maior parte dos meus amigos tinham pais que eram dos anos 60 e eu tinha pais que eram dos anos 30. Era uma coisa que fazia muita confusão na minha cabeça na altura e que aprendi a valorizar só mais tarde, como uma espécie de máquina do tempo. Vir a Cabo Verde foi um momento de ser esponja para mim, de abrir os olhos e os ouvidos e entender como é culto este país, como são cultas estas ilhas e as diferenças entre cada uma delas, claro, gastronómicas e musicais, que é o mais conhecido, mas não só isso, das histórias, das narrativas e dos valores que elas transportam. Que são valores que às vezes nos remetem para um antepassado milenar das ilhas, que nos fazem lembrar histórias da Odisseia, do Ulisses. A ilha tem uma cultura ligada a valores da hospitalidade, da aventura, do diálogo, valores de que nós precisamos actualmente. Mas também da inventividade, da criatividade, da imaginação, do desenrascanço e muito em particular da nostalgia, da saudade. São coisas que duas ilhas têm mais em comum entre si, mesmo que estejam separadas por oceanos de diferença, do que às vezes entre a ilha e o continente que está ali a poucas centenas ou milhares de quilómetros. E portanto, sim, eu creio que a crioulidade, tal como Cabo Verde a entende, é uma história interessante a contar. E sabemos que, evidentemente, a crioulidade tem sentidos muito diferentes. No Brasil já não é a mesma coisa. Crioulo, que é uma coisa entendida em Cabo Verde como sendo a mais nobre das coisas que se pode dizer de alguém, no Brasil não é entendido assim. No Brasil há toda uma outra história que se está a fazer hoje em dia em torno das noções de mistura que têm aspectos complexos, até difíceis, que vão demorar a ser decifrados. Eu sou um fascinado, por exemplo, pela história da palavra mulato e mulata, que têm uma acessão completamente diferente dependendo da história que a gente decidir que é aquela que explica a palavra. Porque se é verdade que no século XVI e XVII a palavra mulato e mulata aparece contada de uma forma que pode ser entendida como pejorativa e por isso ela é rejeitada por muita gente actualmente, que é aquela etimologia que eu creio que tem grande possibilidade de ser uma etimologia espúria, errada, já veremos porquê, que é desumanizante, porque é a ideia da mula e da mula ser, no fundo, o descendente. Mas há uma outra etimologia mais antiga, que vem do árabe, e do árabe na Península Ibérica, que tinha uma palavra que era muwallad. Muwallad quer dizer misturado, e era utilizada não por razões que hoje nós diríamos étnico-raciais ou genéticas ou fenotípicas, mas era utilizada inicialmente por razões religiosas. Muwallad era o filho de um casal misto religioso. Poderia ser de um homem muçulmano e de uma mulher cristã. Poderia ser de um homem cristão e de uma mulher judia. Poderia ser de uma família que era judia e se tinha convertido ao islamismo, ou que depois se tinha convertido ao cristianismo. Se a família era misturada e na Idade Média, no sul da Península Ibérica, muitas famílias, e não só famílias, eram misturadas, elas eram muwallad. E quando esse termo se aplicava no plural a uma cidade, a um bairro, a uma rua, dizia-se dessa cidade, pode ser a minha Lisboa natal, que era uma cidade muladi.
MBS - Se pensássemos o Atlântico como um espaço de futuro, não apenas de memória, quais as possibilidades de diálogo existem entre esses dois lados?
RT - Eu creio, por exemplo, que deveria haver algures numa ilha da Macaronésia, ou talvez em mais do que uma, uma universidade que fosse para este espaço cultural. Poderia ser uma universidade da lusofonia se achássemos que a CPLP tinha recursos suficientes e os recursos não é de dinheiro, porque dinheiro há quando há vontade política. Por exemplo, na Ilha Terceira, nos Açores, existem 400 casas vazias que pertenciam aos americanos da base das lajes. 400 casas à americana, com relvado atrás, relvado à frente, primeiro andar, segundo andar, escada no interior, casas exactamente como os americanos costumam fazer e que eles à sua maneira transplantaram para uma ilha nos Açores. O governo dos Açores não sabe o que fazer com elas. E eu penso, porque não fazem uma universidade lá, que receba estudantes de Cabo Verde, de São Tomé, de Angola, de Moçambique, do Brasil, ou inclusive, porque nessa ilha terceira houve grandes batalhas entre portugueses e espanhóis e naufragou lá o primeiro grande historiador da América Espanhola, Garcilaso de la Vega, um mestiço de espanhol e de Inca. Veio do Peru, na altura não havia canal do Panamá, teve de passar o Istmo a pé, apanhou um barco nas Caraíbas e esse barco naufragou na Ilha Terceira. Ele salvou-se, ali viveu algum tempo e depois passou para o continente europeu, onde veio a traduzir um livro fantástico que se chama Diálogos de Amor, de um judeu português que tinha sido expulso de Portugal, Leão Hebreu, e que vivia em Itália. Um diálogo platónico extraordinário. Abramos também essa universidade aos países de língua espanhola, ou mais ainda, a todo o Atlântico, se quisermos. Por que não se faz na Cidade da Praia, por exemplo, a exemplo do que existe no Rio de Janeiro, que é o gabinete português de leitura, um gabinete lusófono de leitura. No fundo, uma grande biblioteca lusófona que possa ser um ponto de encontro e onde se recupera um belíssimo edifício do Platô, sei lá, e possa aí haver uma biblioteca que seja internacional.
MBS - Para nos situarmos mais cá entre nós, de maneira geral, mas particularmente em Cabo Verde, hoje a escola e a linguagem tornaram-se verdadeiros campos de disputa. Discutem-se currículos, vocabulários, símbolos, e é natural que assim seja, é na escola que se forma o pensamento das novas gerações. Rui, como é que se manifestam hoje essas disputas nas escolas, nas universidades que tens experiência ou mesmo nos media? E se estivéssemos a desenhar um modelo educativo para o futuro, que papel deveria ter a linguagem nesse processo? Porque a questão, no caso de Cabo Verde, onde a convivência entre o português e o crioulo representa uma das grandes encruzilhadas da nossa educação. A língua pode ser tanto uma ponte de inclusão como um muro de exclusão. Tudo depende de como é trabalhada na escola. Portanto, centrando na questão, como é que se manifestam estas disputas hoje nas escolas, nas universidades ou mesmo nos media?
RT - A escola nunca foi perfeita, mas foi sempre o melhor que nós tivemos. A escola, desde milénios que a gente a tem, é aquele momento absolutamente mágico na vida de uma pessoa, em que a sociedade se organizou para que nós ali, entre os 5 ou 6 anos de idade e os 20, temos 15 anos da nossa vida em que nos vai ser dado, em condensado, tudo aquilo que a humanidade demorou milénios para lá chegar. Fórmulas matemáticas, o melhor da literatura, o melhor da poesia, a história, a sociologia, a escrita, o alfabeto, o desenho, a capacidade de trabalhar em conjunto, de trabalhar em equipa, tudo isso. A quem está na escola hoje em dia, o que a gente tem de dizer é aproveitem, vocês nunca mais vão ter isso na vida. A partir do momento em que a gente entra na linha de montagem de uma profissão, mais ninguém vai organizar a sociedade de forma a darmos o melhor que a humanidade descobriu, inventou e produziu durante milénios em poucos anos da nossa vida. Todo esse lado mágico, abundante, rico da escola, está a ser desidratado por aquilo que há de menos interessante, que são discussões absolutamente bidimensionais, de contra e a favor, apenas acerca de determinadas coisas, woke e anti-woke. Bem, eu não quero entrar e não devo na discussão português ou crioulo, mas a resposta é português e crioulo, quer dizer, a escola tem sempre espaço, o saber não ocupa lugar, é uma questão de sabermos organizar o saber, o saber só ocupa lugar quando é desorganizado, aí pode acontecer que na nossa cabeça às vezes umas ideias lutam com as outras, umas línguas lutam com as outras se não são estudadas, não é? Se eu não estudo espanhol nem italiano e no entanto tento falar os dois ao mesmo tempo, não falo nem um nem outro. Mas se eu estudar espanhol e estudar italiano, apesar de serem línguas para mim parecidas, eu vou conseguir falar as duas. Estou certo de que há uma maneira positiva de, eu não diria positiva, diria hiperpositiva de Cabo Verde tirar partido dessa sua riqueza linguística que é de ter o crioulo e o português. Um dia poderíamos falar de uma crioulofonia, de certa forma, partir do encontro não só do crioulo da Guiné-Bissau, o crioulo do Suriname, o papiamento, que tem tantas coisas em comum com o de Cabo Verde, ou com os outros crioulos, mesmo que não tenham a mesma origem, como o patuá de Macau, ou o papiá kristáng da Malásia, ou o que quer que seja. São legados que a história teceu, lá está, através de muitas gerações de sofrimento, mas também de criatividade humana, e que Cabo Verde, como um país no qual essa língua se tornou uma língua oficial, tem tanto a falar com o Haiti, tem tanto a falar com Cuba, com Jamaica, com São Tomé, com a Guiné Equatorial, com a Ásia também, que há muito a fazer desse ponto de vista. O português nunca será prejudicado pelo cultivo do crioulo em Cabo Verde. Pelo contrário, quando eu comecei a aprender algum crioulo, eu entendi algumas coisas do português que eu não entendia. E certamente se a gente fosse buscar alguém à Roma de 2.500 anos atrás e essa pessoa fosse ouvir falar português italiano e crioulo, ia pensar, eu agora entendo melhor o latim do que antes de saber essas línguas.
Esta é apenas uma pequena parte da conversa. Há muito mais para ouvir no podcast.
Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1240 de 3 de Setembro de 2025.
 homepage
homepage