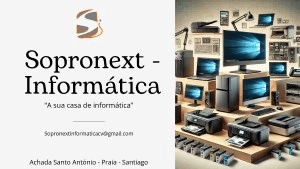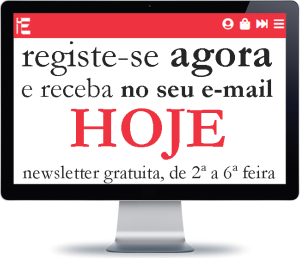O Dia em que a Esperança se Vestiu de Verde-Rubro
O 5 de Julho de 1975 permanece como um marco na história de Cabo Verde. Pela primeira vez, o povo cabo-verdiano assistia ao hastear da sua bandeira e escutava o hino nacional, proclamando-se livre e soberano. Foi o culminar de um longo e desigual processo histórico, que alimentou o sonho colectivo de um país justo, digno e independente. Nesse dia, a expectativa de um novo futuro foi largamente partilhada.
Importa, no entanto, recordar que a independência não foi alcançada por via armada em solo cabo-verdiano, mas sim resultado de múltiplos factores. A luta do PAIGC na Guiné-Bissau, iniciada em 1963, fragilizou o poder colonial português e demonstrou a capacidade organizativa do movimento. A proclamação unilateral da independência guineense em 1973 e o seu reconhecimento internacional foram marcos decisivos.
Contudo, foi a Revolução dos Cravos, em Portugal, que abriu caminho à descolonização. Com o colapso da ditadura e o desmantelamento do império, surgiram em Cabo Verde intensos movimentos de mobilização política e cívica. Apesar de pouco estruturado nas ilhas, o PAIGC beneficiava do prestígio acumulado na diáspora e do reconhecimento internacional enquanto força libertadora.
Foi nesse contexto que o PAIGC se afirmou como interlocutor privilegiado nas negociações com as autoridades portuguesas. O seu reconhecimento como representante legítimo do povo cabo-verdiano resultou mais de uma decisão política externa do que de um consenso interno. A transição foi pacífica, mas sob o silêncio das armas, outros ruídos se ergueram: o anúncio da vigilância, o predomínio de uma só voz política. E assim se abriu caminho a um tempo em que o Estado passou a falar com a voz do partido.
Quando o Estado se Confunde com o Partido
O texto da proclamação da independência consagrou, sem ambiguidades, a subordinação do novo Estado ao projecto político do PAIGC – um partido que se apresentava como vanguarda da libertação, detentor exclusivo da legitimidade para governar. A afirmação da continuidade revolucionária converteu-se na fundação de um modelo de poder avesso ao pluralismo e à crítica.
Instalou-se um regime de partido único, liderado inicialmente pelo PAIGC e, a partir de 1981, pelo recém-criado PAICV. Este novo poder apropriou-se progressivamente do Estado, da cultura e da vida cívica, restringindo as liberdades fundamentais, silenciando o debate público e enfraquecendo a autonomia da sociedade civil. Ainda assim, o próprio partido não foi imune a conflitos internos. Episódios como a clivagem de 1977, a reformulação orgânica que conduziu à criação do PAICV e o surgimento de dissidências ao longo da década de 1980 evidenciam que, por detrás da fachada de unanimismo, existiam fracturas ideológicas e tensões latentes que desmentem a imagem de um bloco monolítico.
A soberania conquistada foi rapidamente transferida para um partido que se assumiu como único intérprete legítimo da vontade nacional, concentrando em si o poder político, ideológico e simbólico do novo Estado. Em vez de se abrir a um processo de pluralização democrática, o país assistiu à consolidação de uma lógica de centralização e de uniformização da vida pública. Esse modelo não apenas limitou o exercício da cidadania, como condicionou profundamente a construção das instituições.
Nesse mesmo contexto, o Estado cabo-verdiano foi ainda conduzido à tentativa politicamente arriscada e historicamente controversa de uma união com a Guiné-Bissau – um projecto concebido com base na ideologia da unidade africana e no legado comum da luta anticolonial. No entanto, esta ambição, mais programática do que consensual, não teve enraizamento popular efectivo nas ilhas e foi vivida por muitos cabo-verdianos como como uma imposição externa e sinal de subordinação.
A proposta de união suscitou nas ilhas sentimentos de estranheza e resistência, por ignorar as especificidades culturais, linguísticas e identitárias de Cabo Verde. A ausência de debate público aprofundou o mal-estar e fortaleceu o sentimento de que o país estava a ser conduzido por imposições ideológicas. O golpe de Estado de 1980 na Guiné-Bissau, com a queda de Luís Cabral, foi o ponto de ruptura simbólica. Interpretado como traição ao ideal cabralista, esse episódio confirmou que os destinos das duas nações não podiam seguir atrelados. Para muitos cabo-verdianos, a separação representou não uma frustração, mas um alívio – um passo necessário na afirmação da identidade nacional.
A união Guiné-Cabo Verde, longe de representar um destino partilhado entre povos, acentuou tensões internas e tornou-se, com o tempo, mais um factor de alienação política do que de solidariedade efectiva.
A Síndrome da Rã Cozida é uma metáfora frequentemente usada para ilustrar a tendência humana para aceitar, sem resistência, mudanças que, embora prejudiciais, se instalam de forma lenta e insidiosa. Tal como a rã mergulhada em água tépida que, sem dar por isso, é cozida à medida que a temperatura sobe gradualmente, também as sociedades podem ser levadas, passo a passo, a naturalizar o autoritarismo. Esta imagem ajuda a compreender o que se passou em Cabo Verde após a independência.
Nos primeiros tempos, reinava um entusiasmo generalizado. O fim do colonialismo anunciava um novo ciclo histórico, marcado por progressos na alfabetização, por mobilizações cívicas em torno da ideia de unidade nacional e por um discurso optimista sobre o futuro. O país parecia embarcar num tempo de transformação profunda, com grandes expectativas sociais e institucionais.
Contudo, à medida que os dias se sucediam, também o calor da panela aumentava. As liberdades foram sendo cerceadas de forma quase imperceptível, mas efectiva. O único jornal, A Voz di Povo, converteu-se num órgão do partido único; os sindicatos nasceram sob tutela directa do poder; e as organizações de massas – como os Pioneiros, a Juventude Africana Amílcar Cabral e a Organização das Mulheres de Cabo Verde – surgiram como braços do regime, promovendo a doutrinação em detrimento da participação autónoma.
A crítica passou a ser tratada como ameaça à ordem estabelecida. A chamada “lei do boato” institucionalizou o medo e o silêncio, impondo um controlo apertado sobre a palavra e o pensamento. O entusiasmo cedeu lugar à apatia política, e o quotidiano foi sendo moldado por uma normalização subtil do autoritarismo.
Vários sectores da sociedade viveram esta transição de forma desigual. As mulheres, embora exaltadas como símbolo da nação, continuaram afastadas dos espaços de decisão política. Os camponeses, instrumentalizados nas campanhas de mobilização estatal, viram-se cada vez mais dependentes do poder para garantir a subsistência. A juventude urbana, alvo de exaltação ideológica e vigilância apertada, foi privada de horizontes, sem voz própria nem alternativa visível.
Tal como a rã que permanece na água a ferver, o povo cabo-verdiano permaneceu demasiado tempo no interior de um sistema que abafava a dissidência, diluía a esperança e reprimia o pluralismo. O que começou como libertação transformou-se, aos poucos, numa forma de cativeiro político e simbólico.
A Esperança Assaltada, a Democracia Reconquistada
Mas nem tudo foi silêncio. Mesmo sob vigilância e censura, a sociedade civil cabo-verdiana encontrou modos de respirar. Associações comunitárias, igrejas, músicos, poetas e professores abriram brechas na parede do consenso imposto. Através do teatro, da música e da palavra escrita, lançaram sinais de liberdade e construíram redes invisíveis de resistência. Foram essas forças subterrâneas – discretas, mas persistentes – que prepararam o terreno para a mudança. A democracia foi fruto de acção cívica e de consciência crítica acumulada.
O que se apresentou como libertação tornou-se, para muitos, um verdadeiro “assalto à esperança”. Crescidos sob a nova bandeira, os jovens herdaram um país sem poder fazer nada. A liberdade prometida transformou-se numa sombra; e os hinos, outrora entoados com fervor, tornaram-se moldura de um quotidiano sem escolha. As eleições eram meros rituais. O medo alastrou-se às escolas, bairros e espaços públicos. Como o sapo, o povo permaneceu demasiado tempo dentro da panela.
Só no final dos anos 1980, com o colapso do bloco socialista e o surgimento de novas vozes mais críticas e instruídas, se exigiu mudança. Em 1990, o multipartidarismo foi consagrado e iniciou-se uma longa aprendizagem democrática. O sapo saltou, mas não sem feridas. E o povo, que outrora sonhara a liberdade, despertou para o desencanto de ter sido traído por aqueles que a prometeram.
Assumir esta ambivalência – entre sonho e silêncio – não diminui os esforços de reconstrução nem o simbolismo da independência. É, acima de tudo, um acto de lucidez e lealdade à liberdade. A esperança de um povo não pode ser capturada por ideologias redentoras, nem a soberania justificar o silenciamento da cidadania. A liberdade política não é um luxo tardio, mas o fundamento da dignidade nacional.
As duas faces do 5 de Julho coexistem. Uma é a da libertação e do despertar colectivo. A outra, simultânea, é a da instalação de um regime fechado, que rapidamente monopolizou o poder e a esperança. Um mesmo gesto que libertou e aprisionou. Entre ambas, impõe-se hoje uma consciência crítica e destemida, que reconheça que o sonho e o silêncio foram contemporâneos – e que só resgatando essa memória podemos fazer justiça à nossa história.
Porque a liberdade política não é apêndice da soberania, mas sim a sua razão de ser. O 5 de Julho não representa apenas a conquista da independência formal, mas também a necessidade permanente de garantir, na prática, o exercício da liberdade e o direito à diversidade de pensamento.
Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1231 de 2 de Julho de 2025.
 homepage
homepage